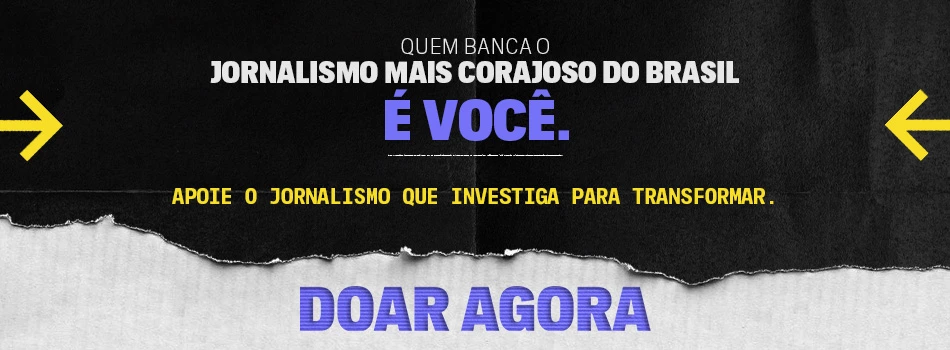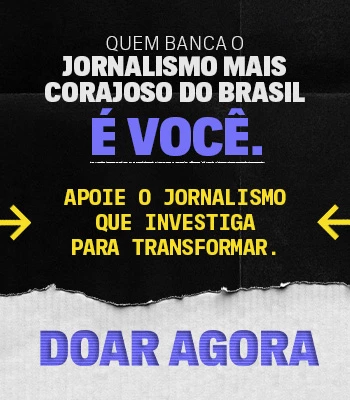Primeiro trabalho solo de Daniela Thomas, “Vazante”, que entrou em cartaz há uma semana, no dia 9 de novembro, foi vendido pela imprensa como um retrato da escravidão no país — mas não é o que entrega. O filme tem o mérito de provocar a conversa sobre a representação histórica da escravidão e de povos escravizados no cinema, mas também é uma obra de brancos para brancos, que está longe de se inserir na cinematografia brasileira como algo que vá muito além disso ao tratar do assunto em questão.
Assisti a “Vazante” para participar do programa da TV Globo “Conversa com Pedro Bial” junto com a diretora do filme e o cineasta Joel Zito Araújo. Durante o programa, Daniela explica que o filme nasceu a partir de uma história que vem sendo contada há décadas em sua família: a de um parente de 50 anos que se casou com uma menina de doze. O episódio, bem retratado em “Vazante”, aconteceu no início do século XX, mas Daniela escolheu recuar 100 anos e contá-la como se tivesse se passado em 1821.
A escravidão vira mera moldura, plano de fundo, com personagens negros sem voz, sem nome.
E é aí que, para mim, começa o grande problema: no filme, a escravidão vira mera moldura, plano de fundo, com personagens negros sem voz, sem nome, sem profundidade, sem desenvolvimento, servindo de escadas para os personagens brancos.
Durante a preparação para a conversa na televisão, li muita coisa que já foi publicada sobre o filme e assisti aos vídeos do polêmico debate no Festival de Cinema de Brasília.
Durante o evento no Distrito Federal, Daniela se assustou com os questionamentos – porque julgava ter feito o dever de casa para tratar de tema ainda tão distante da realidade e do cotidiano da maioria da população branca do país.
É interessante comparar o que realmente aconteceu com a percepção e a reação de Daniela, expostas em artigo escrito por ela alguns dias após ao debate. Citado no texto da diretora, o crítico de cinema Juliano Gomes escreveu em resposta um excelente e preciso texto, no qual define como “fragilidade branca” o comportamento de pessoas brancas quando confrontadas com suas ideias em relação à escravidão negra e ao racismo.
O conceito foi cunhado pela professora estadunidense Robin DiAngelo, que nasceu branca e pobre e cresceu consciente de como a opressão de classe influenciava sua vida, mas sem muita noção de seu privilégio de cor. Na vida acadêmica, DiAngelo resolveu analisar a própria experiência nos grupos com os quais conviveu e como essa vivência contribuía para perpetuar o racismo.
O resultado é um trabalho interessante, que DiAngelo aprimorou durante os cursos em que fala de racismo e branquitude para plateias majoritariamente brancas. Vale a pena acompanhar também o caso da estudante canadense que está sendo acusada de “racismo reverso” e sofrendo um processo disciplinar em sua universidade por ter usado a expressão “fragilidade branca” em um post de Facebook.
Achei oportuno escrever sobre esse conceito porque também tenho pensado bastante nele ultimamente. Tenho feito palestras e ministrado cursos sobre racismo para plateias majoritariamente – e, às vezes, exclusivamente – brancas, e detectado comportamentos que se encaixam perfeitamente em sua descrição.
As consequências de um ambiente isolado de estresse racial
Segundo DiAngelo, “pessoas brancas vivem em um ambiente social que as protege e isola do estresse racial”. Este ambiente isolado (mediado por classe, instituições, representação cultural, mídia, livros, propaganda, discursos dominantes etc…) constrói a expectativa dos brancos de se manterem dentro de uma zona de conforto racial, ao mesmo tempo em que diminui a capacidade de tolerância ao estresse causado pelo assunto, levando à fragilidade branca.
Nesse estado, a mínima quantidade de estresse se torna intolerável, provocando uma série de atitudes defensivas, que incluem demonstrações de raiva, medo e culpa, e comportamentos como silenciamento e afastamento da situação que causou o estresse. Isto funciona para restabelecer o equilíbrio racial branco que, por sua vez, pode levar a um isolamento e uma proteção ainda maiores, que voltam a provocar o estresse quando acontece um novo confronto com o tema. Ou seja, um ciclo vicioso que impossibilita o diálogo aberto e honesto e mantém o status quo.
DiAngelo cita algumas situações que costumam provocar reações típicas dessa fragilidade branca:
Quando se sugere que o ponto de vista de uma pessoa branca também é moldado por referências racializadas – ou seja, quando alguém lembra de mencionar que branco também é raça, e não um padrão a partir do qual apenas as pessoas não brancas são racializadas.
Quando pessoas negras não querem compartilhar suas histórias ou responder questões sobre suas experiências raciais – pessoas brancas muitas vezes esperam que pessoas negras estejam sempre dispostas a educá-las em relação a assuntos raciais, sentindo-se frustradas ou “desobedecidas” quando isso não acontece.
Quando pessoas negras afirmam a importância de fazerem parte de um grupo – ao se negarem a abrir mão de uma identidade negra que as insere em um determinado grupo, em nome de demandas que lhe são caras e específicas, pessoas negras desafiam o individualismo liberal.
Quando pessoas negras salientam o acesso desigual a oportunidades, desafiando o conceito de meritocracia tão caro a pessoas brancas que acreditam que todos podem conseguir o que quiserem, desde que se esforcem.
Quando pessoas negras estão em posição de liderança ou de destaque — tanto no ambiente profissional quanto social ou cultural (em papéis centrais e não estereotipados em filmes, por exemplo) –, desafiando a ideia de centralidade e/ou liderança brancas.
O conceito de fragilidade branca também pode ser aplicado a outras questões, como fragilidade hétero ou masculinidade frágil, por exemplo.
DiAngelo enumera ainda outras situações em seu artigo, sendo que muitas podem ser facilmente observadas e identificadas em experiências cotidianas. É interessante observar que o conceito de fragilidade branca também pode ser aplicado a outras questões, como fragilidade hétero ou masculinidade frágil, por exemplo.
Ao mesmo tempo em que a reação conservadora é cada vez mais violenta ao avanço e ao não silenciamento das minorias, consigo ver o cenário atual com um pouco de otimismo: há rachaduras nas bolhas que envolvem as zonas de conforto, e o que antes parecia rigidamente estabelecido está sendo exposto com todas as suas fragilidades. O que agora pode ser apenas rachadura há de se tornar ruptura, porque nada volta a se recompor do jeito que era antes. Aos que estão atentos e dispostos a fazer o movimento: o desconforto é bom. É o que nos faz avançar.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?