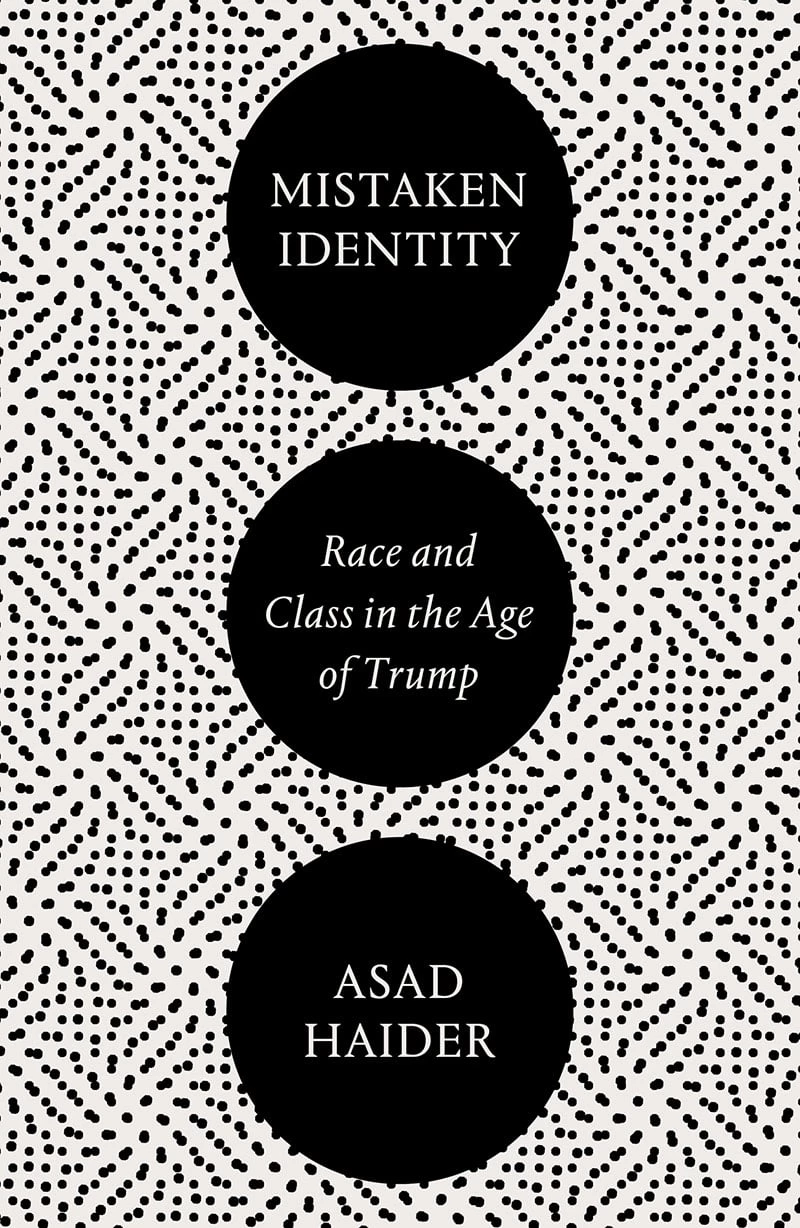A política identitária atende a todos os gostos, mas não no bom sentido. Em sua campanha eleitoral de 2016, Hillary Clinton invocou a “interseccionalidade” e o “privilégio branco” como um aceno vazio aos jovens eleitores liberais. Richard Spencer e membros da “alt-right” (“alternative right”, um movimento de extrema-direita nos EUA) se autodenominam “identitários” para mascarar o fato de que são, na verdade, supremacistas brancos. E, para algumas pessoas “conscientes”, usar uma camiseta onde se lê “feminista” e criticar celebridades por serem vagamente “problemáticas” é a máxima extensão de sua participação política.
O que pretendia ser uma estratégia revolucionária para derrubar opressões entrecruzadas tornou-se uma palavra de ordem nebulosa e carregada, que foi cooptada pelos diferentes polos do espectro político. Um novo livro, “Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump” (“Identidade Trocada: Raça e Classe na Era Trump”, ainda sem tradução no Brasil), empreende uma análise rigorosa das políticas raciais e da história racial nos Estados Unidos para debater a mutável relação entre identidade pessoal e ação política.
Em “Mistaken Identity”, Asad Haider defende que a política identitária contemporânea é uma “neutralização dos movimentos contra a opressão racial”, e não uma progressão em relação à luta de base contra o racismo. Haider, doutorando da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, coloca o trabalho dos acadêmicos e ativistas negros radicais em diálogo com suas experiências pessoais de racismo e organização política. Ele mapeia o processo por meio do qual as visões revolucionárias do movimento de libertação negra – que viam o racismo e o capitalismo como dois lados da mesma moeda – foram substituídas por um conceito restrito e limitado de identidade.
Ele argumenta que a identidade foi abstraída das nossas relações materiais com o Estado e a sociedade, que a tornam relevante para as nossas vidas. Assim, quando a identidade serve de base para as crenças políticas de alguém, ela se manifesta em divisionismo e atitudes moralizantes, em vez de estimular a solidariedade.
“O enquadramento da identidade reduz a política ao que você é como indivíduo e enquanto ganha reconhecimento como indivíduo, e não à sua participação em uma coletividade e na luta coletiva contra uma estrutura social opressora”, escreve Haider. “O resultado é que a política identitária paradoxalmente acaba reforçando as mesmas normas que se dispõe a criticar.”
O conceito de política identitária foi originalmente criado em 1977 pelo Coletivo Combahee River, um grupo de feministas socialistas lésbicas negras que reconheciam a necessidade de uma política autônoma própria, uma vez que se confrontavam com o racismo no movimento das mulheres, o sexismo no movimento de libertação negra, e o reducionismo de classe. Foi fundamental para sua política emancipatória trazer para o centro a forma como as opressões econômica, racial e de gênero se materializavam simultaneamente em suas vidas. Seu trabalho político, porém, não parou aí. As mulheres de Combaheem defendiam a construção de alianças em solidariedade a outros grupos progressistas para erradicar todas as formas de opressão, ao mesmo tempo em que traziam a que elas próprias sofriam para o primeiro plano.
Ao fundamentar sua crítica em histórias específicas e relações materiais, Haider adota uma abordagem de múltiplas vertentes para explorar em que intensidade a política identitária se afastou de suas origens radicais.
Por meio de seu envolvimento na organização contra o aumento das anuidades escolares e a privatização, Haider descreve as falhas dos movimentos que criam uma falsa separação das questões econômicas e raciais por critérios baseados em identidade: questões “de brancos” e questões “de não brancos”. Sua análise do “privilégio branco” reflete sobre o desenvolvimento da raça branca, codificada no estado colonial da Virgínia no século XVII pela classe dominante para justificar a exploração econômica dos africanos como escravos e evitar as alianças entre trabalhadores africanos e europeus na sequência da Revolta de Bacon.
No seu capítulo sobre “passabilidade”, Haider tenta compreender o caso de Rachel Dolezal como um exemplo das “consequências de reduzir a política à performance identitária”. Ele analisa o trabalho do novelista Philip Roth, bem como a transformação política do poeta Amiri Baraka, que abraçou o nacionalismo negro nos anos 1970 e depois o renegou em prol do universalismo marxista. Por fim, Haider explica como a eleição de Donald Trump estava delineada na ascensão do neoliberalismo na política eleitoral décadas atrás. Usando o trabalho do teórico cultural britânico Stuart Hall, ele traça cuidadosas comparações com a gestão da crise econômica e do pânico moral pelo Partido Trabalhista do Reino Unido na década de 70, que preparou o caminho para a chegada de Margaret Thatcher ao poder.
O curto livro de Haider se encerra com o paradoxo dos direitos como o objetivo final dos movimentos de massa. Ele convoca, em vez disso, a uma retomada do “universalismo insurgente”, onde os grupos oprimidos se posicionam como atores políticos, não como vítimas passivas. Ao mesmo tempo fascinante e provocativo, “Mistaken Identity” se afasta das brigas no Twitter e dos artigos de opinião para contextualizar os debates sobre política identitária e reconfigurar como a ideia de raça conforma os movimentos de esquerda. A entrevista de The Intercept com Haider foi resumida e editada por razões de clareza.
Você pode fazer um apanhado de como a política identitária se converteu de prática política revolucionária a ideologia liberal individualista?
1977 foi historicamente um divisor de águas. Em primeiro lugar, veio a crise dos movimentos de massa, que remonta ao movimento dos direitos civis – a Nova Esquerda da década de 60 e o nacionalismo negro que se seguiu a ela. Essas mobilizações e organizações de massa enfrentaram seus próprios limites estratégicos, confrontadas com a repressão estatal, e assim seu dinamismo entrou em declínio. Ao mesmo tempo, houve o que Stuart Hall chamou de “crise de hegemonia”, onde as coordenadas da política americana estavam sendo completamente reorganizadas. O mesmo processo estava acontecendo na Europa, onde as crises econômicas dos anos 1970 tinham levado a uma completa reordenação dos locais de trabalho, os sindicatos estavam na defensiva, e os movimentos de massa estavam se dissolvendo. Assim, parte do que aconteceu naquele período é que a linguagem da identidade e da luta contra o racismo se tornou individualizada e unida ao progresso individual de uma classe política negra ascendente e de elites econômicas que haviam sido excluídas do centro da sociedade americana pelo racismo, mas passaram a ter uma via de entrada.
Penso que nos falta, no momento atual, uma linguagem política que possa promover o deslocamento da divisão para a solidariedade, que foi uma questão importante para os movimentos antirracistas desde a década de 50 até a de 70, e é sobre isso que o Coletivo Combahee River estava escrevendo. Não temos uma linguagem para as lutas coletivas que inclua as questões do racismo e possa incorporar movimentos interraciais. Acho então que parte do motivo para que esse tipo de política identitária individualista apareça tanto na esquerda entre ativistas que realmente querem estruturar movimentos que desafiem a estrutura social é que nós perdemos a linguagem que acompanhava os movimentos de massa, e que nos permitia pensar em formas de construir essa solidariedade.
Você escreve que “a ideologia de raça é produzida pelo racismo, não o contrário”. O que isso significa?
Nesse livro, eu não falo sobre “raça” em geral porque é possível pensar em muitos contextos históricos diferentes em que são introduzidas divisões entre grupos que se tornam hierárquicas, e algumas delas podem estar relacionadas à cor da pele. Mas existem exemplos desse tipo de diferenciação de grupo que não estão relacionados a isso, como o caso do colonialismo irlandês e inglês na Irlanda, no século XIII, a que faço referência no livro. Se olharmos para os diferentes exemplos de escravidão no sistema de plantation do Caribe, precisaremos explicar [raça] de outra forma, porque não havia apenas escravos africanos, mas também “coolies” [termo pejorativo usado para se referir aos trabalhadores braçais vindos da Ásia] da Índia e da China.
Falo de uma história muito específica do conceito de raça que emergiu dos trabalhos forçados no estado da Virgínia no período colonial do século XVII. (…) Meu argumento é que a primeira categoria racial que se produz é a da raça branca, de forma a excluir os trabalhadores africanos da categoria em que se incluíam os europeus, para os quais havia uma previsão de término para o período de servidão, [em oposição à] categoria dos escravos, que não tinham prazo. A raça branca foi inventada, como diz Theodore Allen, na forma como as leis mudaram em relação aos trabalhos forçados, e esse foi o começo da divisão das pessoas em categorias raciais na história dos EUA. O que o racismo fez nesse caso foi estabelecer uma diferença entre os tipos de exploração econômica, ao ponto de se tornar uma forma de controle social, que dividiu os explorados ao introduzir entre eles hierarquias e privilégios para alguns, impedindo que [os trabalhadores forçados migrantes europeus e africanos] percebessem seus interesses comuns e o antagonismo comum contra aqueles que os exploravam.
Seus encontros pessoais com o racismo e suas observações sobre o ativismo universitário estão entremeados ao livro. Como a sua própria identidade e as suas experiências influenciaram a sua compreensão de raça?

Asad Haider, cofundador e editor da Viewpoint Magazine e autor do livro “Mistaken Identity”.
Foto: Cortesia de Asad Haider
Eu sempre me refiro a uma citação de Stuart Hall, que disse que a identidade não é um retorno às suas raízes, mas um acerto de contas com as suas rotas. Nesse sentido, identidade não é a sua essência, ou o que está dentro de você na sua fundação, mas diz respeito ao movimento que levou até onde você se encontra. Consigo rastrear minha identidade no tempo até a migração dos meus ancestrais do Irã para a Índia, e então, depois da Partição [a divisão do território da Índia Britânica pós-independência, que culminou na criação da Índia e do Paquistão], da Índia para o Paquistão; de lá, meus pais foram para o interior da Pensilvânia. É a história de um movimento pelo mundo, e, a cada passo, uma mistura que transformava o que estava se movendo. Essa percepção sempre me deixou muito cético quanto ao salto entre uma identidade e um tipo específico de política, porque a identidade não pode ser reduzida a uma coisa fixa. Quando você tem uma política que faz exatamente isso, é um desserviço para as pessoas e para todas as nossas histórias de misturas e dinamismo.
Quanto ao ativismo universitário, minha experiência foi como pessoa não branca que se radicalizou principalmente ao aprender sobre o movimento Black Power e sobre o marxismo, por meio do Black Power. Por isso, nunca imaginei que as pessoas pudessem enxergar incompatibilidade entre eles, especialmente porque o marxismo era a força poderosa que existia no século XX, e ia sendo levada e adaptada ao mundo fora do Ocidente. E isso atualmente foi esquecido ou suprimido. Então, como pessoa não branca que se envolvia em movimentos sociais, eu ficava realmente desanimado quando via que a questão racial frequentemente se tornava um catalisador de polarização, fragmentação e derrota, em vez de se incorporar a um programa de emancipação geral. Foi essa frustração que me levou a refletir e a escrever sobre os temas que compuseram o livro.
A esquerda é frequentemente acusada de ser “branca demais” ou “masculina demais”. Como a esquerda pode começar a abordar sua dinâmica racial interna?
Se você tem uma organização ou um movimento que é dominado por homens brancos, isso é um problema político e estratégico. Se ele for tratado como um problema moral, não haverá como resolvê-lo, e eu considero que o importante é conseguir mudar a situação. Qualquer pessoa que já tenha participado de ativismo sabe que, em uma reunião, alguém pode ser chamado ou intimado a “medir seus privilégios”. Jo Freeman escreveu um texto interessante, oriundo do movimento feminista, intitulado “Trashing” [“Escracho”]: o equivalente contemporâneo de “escrachar” é “expor”. O curioso do escracho é que ele não funciona, porque centraliza toda a atenção no homem branco que praticou a transgressão que esteja sendo moralmente condenada. Ele também cria uma atmosfera tal de tensão e paranoia que mesmo pessoas que não são homens brancos ficam nervosas ao falar porque podem dizer a coisa errada – e ser escrachadas. Assim, é uma questão que as pessoas envolvidas na organização precisam levar a sério, e que os homens brancos precisam levar a sério.
Havia um princípio que o comunista negro Harry Haywood dizia ser fundamental para a organização durante as lutas antirracistas dos anos 1930. Ele dizia que todos precisam acertar as contas com sua própria posição nacional. Assim, os camaradas brancos precisam se opor ao chauvinismo branco, e assumir um papel preponderante nessa oposição. E ele dizia que os camaradas negros precisavam ter um papel preponderante na oposição ao nacionalismo reacionário, que na época era representado pelo Garveyismo [de Marcus Garvey, um dos principais ativistas do nacionalismo negro] e seus equivalentes. Para ele, com essa divisão de trabalho, que era parte efetiva dos movimentos de massa, era possível começar a superar esses problemas. Mas ele disse mais tarde, quando o partido abandonou suas campanhas contra o racismo, que começaram a policiar a linguagem que cada um usava, e a divisão de trabalho acabou, e o problema não foi resolvido. E isso permanece. Homens brancos dentro dos movimentos precisam tomar a frente das tentativas de superação dessas hierarquias que se manifestam nas interações sociais, mas as pessoas não brancas também precisam dar um passo adiante e dizer: “não aceitamos essa divisão entre questões econômicas e raciais, entre classe e raça, e se alguém vier tentar dizer que essas questões são ‘brancas’ ou que este é um ‘movimento branco’, isso não é verdade, porque estamos aqui e desempenhamos um papel, e acreditamos que todas essas questões estejam conectadas e que possamos trabalhar nelas juntos”.
Você pode falar um pouco sobre as ideias por trás do nacionalismo negro dos anos 1970 e suas limitações? Como o nacionalismo negro tem resistido na política contemporânea dos EUA?
Depois de 1965, depois que o movimento dos direitos civis já havia conquistado importantes mudanças nas políticas, não estava claro para onde ele deveria se voltar. Mesmo as lideranças do movimento pensavam que, uma vez que a segregação legal já havia sido formalmente enfraquecida, ainda era preciso lidar com o fato de que a maior parte da população negra vivia na pobreza, e que existiam estruturas fáticas de exclusão. Martin Luther King, por exemplo, começou a se interessar pela “Campanha dos Pobres”, em que atuou no final de sua vida. Mas nesse momento havia também uma outra abordagem, que algumas pessoas chamavam de “tumultos” e outras chamavam de “rebeliões urbanas”, nas cidades do norte do país, numa revolta contra o controle econômico dos proprietários de imóveis e empresários brancos, e questões afins. Na região norte, num contexto urbano, o nacionalismo negro entendido como projeto político dizia respeito à construção de instituições alternativas, em vez de pleitear a integração à sociedade branca.
Havia, então, duas coisas acontecendo simultaneamente. De um lado, nacionalistas negros construindo instituições paralelas, e de outro, a superação da segregação legal e a ascensão de uma nova classe política e uma nova elite econômica negras, que sempre tinham existido em alguma medida, mas não em qualquer escala comparável. Assim, as organizações nacionalistas negras estavam por trás de boa parte das campanhas pela eleição de um prefeito negro em uma cidade de maioria negra. No caso de Amiri Baraka, foi Kenneth Gibson. Uma das razões pelas quais Baraka deixou o nacionalismo negro e aderiu ao marxismo foi a percepção de que, uma vez que Gibson estava no comando de Newark, a política continuou a de sempre. Eu considero que o nacionalismo negro teve um papel revolucionário na sua época – foi um desenvolvimento estratégico e político muito importante – mas ao longo da década de 70, com a ascensão da classe política negra e das elites econômicas negras, ele entrou em contradição.
O nacionalismo negro se tornou atrelado às elites negras políticas e econômicas porque tinha uma ideologia de união racial, e quando as pessoas estavam completamente excluídas da governança e do controle sobre suas vidas, fazia sentido que houvesse uma espécie de aliança entre essas figuras elitizadas e os estratos econômicos mais baixos, porque ambos estavam enfrentando estruturas raciais de exclusão. Porém, à medida que teve continuidade o processo de incorporação das elites negras às estruturas políticas e econômicas já existentes, aqueles interesses já não estavam alinhados, especialmente nos anos 1970, quando os políticos em todos os níveis começaram a impor medidas de austeridade à população, cortando programas sociais e afins. Passaram a ser os políticos negros fazendo isso, e então as contradições entre a elite negra e a maioria da população negra das cidades começaram a se tornar muito claras. O que eu acho que ainda permanece é a divisão entre as elites e a massa trabalhadora, e um resíduo ideológico de união racial que muitas vezes é usado para encobrir a divisão de classe. Esse era bem o caso de Barack Obama.
Como a política identitária pode ser levada de volta a suas origens radicais dentro de um discurso político e uma forma de organização contemporâneos?
Considero que precisamos estar abertos à compreensão de que nossas identidades não formam a base de nada; elas são instáveis e multifacetadas, e isso pode ser incômodo. Precisamos, porém, aprender a aceitar esses aspectos, e parte do que podemos fazer a esse respeito é criar novas formas de nos relacionarmos, que podem surgir por meio dos movimentos de massa. Poderemos superar a fragmentação a que a identidade parece conduzir atualmente ao reconhecer o que o Coletivo Combahee River propunha: que conseguíssemos afirmar uma autonomia política, mas também estar unidos. Acho isso muito prático. Essa solução não virá das discussões intermináveis no Twitter; é algo que precisa surgir da atividade política. É trabalhando em projetos práticos e concretos, aliados a outras pessoas. Esse, por si só, é um processo que enfraquece o racismo, e brancos que trabalham em conjunto com não brancos podem aprender a questionar suas próprias presunções e superar seus impulsos racistas.
Eu me inspiro muito pelo rápido crescimento de organizações socialistas na atualidade, mas algumas vezes me preocupa que o socialismo seja considerado uma espécie de projeto de redistribuição econômica que permanece inalterado desde o século XIX. Os socialistas sempre estiveram envolvidos na construção de alianças: sempre houve um princípio de internacionalismo, nunca houve um conceito fixo sobre que tipos de demanda um movimento socialista deve impulsionar. Algumas vezes uma demanda que parece não estar diretamente relacionada à redistribuição da riqueza pode ser parte da construção de alianças e da mobilização das pessoas. Se uma organização socialista está à frente de um movimento contra o racismo (e esse era o objetivo de vários membros negros do Partido Comunista na década de 30), as pessoas vão olhar ao redor e dizer: “Quem está do nosso lado? São essas pessoas. Quando estávamos lidando com a violência policial, ali estavam essas pessoas, foi essa organização que interferiu para ajudar. E essa organização é multirracial, e eles acham que essas questões que vivemos no cotidiano são importantes, exatamente na mesma medida de qualquer outra questão econômica.” Por isso as organizações socialistas também precisam estar abertas à experimentação e à flexibilidade, para poderem se antecipar à identidade como fonte de divisão e, no lugar disso, fomentar antecipadamente a solidariedade.
Você pode nos explicar sua visão de uma estrutura política universalista?
Precisamos deixar de lado o universalismo do tipo que soluciona divisões e dificuldades dizendo por antecedência que temos algum tipo de fundamento universal, como a natureza humana, ou um materialismo tratado como questão física, que não tem nenhuma relação com o materialismo de que Marx falava. Não é esse universalismo que eu defendo, porque, historicamente, ele tem sido alcançado pela exclusão e pela dominação – como o que foi trazido pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa e pela Revolução Americana, que se mantinha associado à escravidão, ao colonialismo e a várias formas de violência. (…) Minha ideia de universalismo é que as pessoas e os grupos que estão excluídos [dessa definição] do universal se levantem e reivindiquem sua autonomia para produzir um novo tipo de universalidade. Não é algo que possa preexistir; é uma ruptura com o estado existente das coisas. O exemplo clássico é a Revolução Haitiana, que veio depois da Revolução Francesa e mostrou que a França ainda mantinha colônias onde persistia a escravidão, a despeito do que se passava na metrópole.
Conseguiríamos enxergar um novo universalismo se fossem superadas em um movimento real e pragmático as divisões rígidas entre as chamadas categorias identitárias, como raça e gênero, e a categoria de classe. Se pudéssemos ver emergir organizações que promovessem mudanças reais e concretas para aproximar esse fosso – nas quais se tornasse impossível dizer “esta é uma organização branca” ou “esta é uma organização dominada por homens”. Esse fenômeno necessariamente exigiria o questionamento da igualdade econômica e da estrutura de classes da sociedade norte-americana. Pois o surgimento de um movimento que se volte contra as estruturas fundamentais de desigualdade, dominação e exploração da sociedade americana de forma que a identidade não possa existir como força de divisão – esse seria um verdadeiro momento universal.
Foto em destaque: Isaiah Moore, à direita, discute com outros manifestantes sobre relações raciais durante uma manifestação em Coolidge Park em 17 de agosto de 2017, em Chattanooga, Tennessee.
Tradução: Deborah Leão
Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:
Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.
Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!
Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!
Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!
Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.