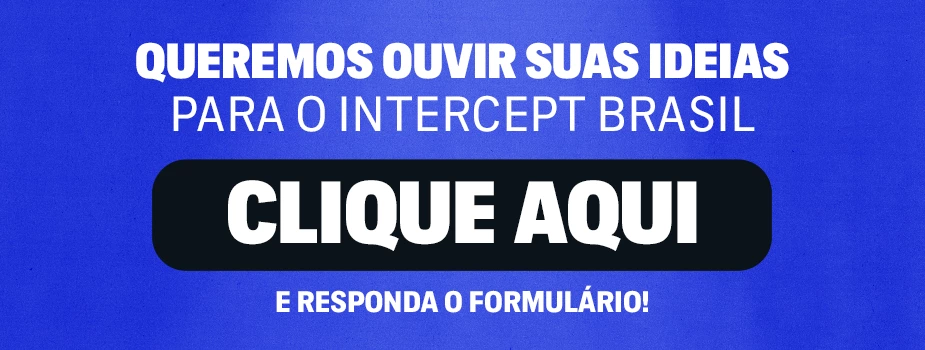Quando chovia forte no centro do Rio de Janeiro dos séculos 18 e 19 era comum que corpos mortos e apodrecidos de pessoas escravizadas boiassem na enchente. Quando não era o corpo inteiro, muitas vezes os passantes cruzavam com pernas e braços dilacerados, vagando pelas esquinas. Insetos, bactérias, cães, gatos e urubus aproveitavam-se. A repugnância diante dos corpos destroçados ficou bem registrada em centenas de documentos da Câmara de Vereadores e nos relatos de viajantes. Em 1814, o alemão G. W. Freireyss escreveu: “Havia um monte de terra da qual, aqui e acolá, saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva que tinha carregado a terra e ainda havia muitos cadáveres no chão que não tinham sido ainda enterrados”.
Freireyss estava de certa maneira enganado. Os cadáveres a que se referia não seriam “ainda enterrados”. Pelo contrário, eles já tinham sido enterrados, com quase nenhuma terra sobre seus corpos, e agora era a chuva que ia desenterrando esses homens e mulheres. Freireyss, na realidade, descrevia a indignidade de um Cemitério de Pretos Novos, espaços dedicados ao enterro (ou ao descarte) dos corpos de escravizados africanos recém chegados ao centro do Rio de Janeiro.
Em vez de dar visibilidade a sua história, a prefeitura preferiu esconder o cemitério dos cariocas.
É sobre um desses cemitérios, o que funcionou em frente à Igreja de Santa Rita, que a terceira linha do Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT carioca, acaba de ser construída. Em vez de dar visibilidade a sua história, a prefeitura preferiu esconder o cemitério dos cariocas.
No início dos anos 1700, a corrida pela exploração do ouro na região de Minas Gerais fez disparar o número de desembarques no Rio de Janeiro. Eram dezenas de milhares de crianças, mulheres e homens que, a cada ano – sequestrados desde a Costa da Mina, na Guiné, do Senegal, de Angola e de muitos outras partes da África – desembarcavam na Praia do Peixe, centro do Rio que, naquele começo de século, ia se transformando na mais brutal cidade escravagista que o mundo já conheceu. Se houvesse compradores, os escravos eram comercializados ali mesmo, onde hoje é a rua Primeiro de Março, na região da Assembleia Legislativa do estado. Às vezes, agentes de inspeção de saúde entravam nos barcos para fiscalizar e impedir o desembarque de algum escravo muito doente. Outros, também muito doentes, eram vendidos a preços baixíssimos para comerciantes pobres, que assim faziam uma aposta: se houvesse melhora, o preço subia na revenda. Quem não era negociado, mas resistira à viagem com saúde, era levado aos mercados.
A frequente morte de quem descia sem saúde dos navios negreiros virou problema público importante no Rio por volta de 1710. A falta de dignidade dos enterros estava angustiando o clero do Rio. Foram os religiosos que exigiram que o rei Dom João V enviasse dinheiro para construir um cemitério especialmente dedicado a esses africanos. A primeira ideia é que ele fosse construído aos pés do Morro do Castelo, onde hoje está a Biblioteca Nacional, na região da Cinelândia. Mas o local decidido foi outro, muito mais próximo ao ponto de desembarque: em frente à Igreja de Santa Rita, na Freguesia de Santa Rita, na atual rua Marechal Floriano, também no centro do Rio.

No século XIX, o Cemitério de Pretos Novos de Santa Rita já estava soterrado pela falta de memória. Na imagem, negros e negras buscam água no chafariz que havia na região.
Pintura de Eduardo Hildebrant - Largo de Santa Rita (1844)
Foi lá, aproximadamente entre os anos de 1722 e 1774, que funcionou o primeiro cemitério de Pretos Novos do Rio. Os enterros não eram gratuitos. Quem operava e cobrava pelo serviço era a igreja de Santa Rita. “A entidade católica cobrava do Estado pelo serviço. Apesar disso, além de serem os enterros feitos em cova rasa, os corpos eram enterrados nus, envoltos e amarrados em esteiras, sem qualquer ritual religioso, reza, encomendação ou sacramento”, escreveu o historiador Murilo de Carvalho na introdução do livro “À flor da Terra” do também historiador Júlio César Medeiros.
Se sequer havia ritual religioso para os escravizados que já eram católicos, convertidos ainda na África, é bem razoável pensar que menos respeito ainda recebiam aqueles escravizados devotos de religiões africanas ou mesmo do islã. A pergunta que fica é: quantos seres humanos foram descartados ali em Santa Rita, sem roupa, respeito religioso ou dignidade?
Começaram longos meses de debates sobre como o presente respeita o passado. Ou como o passado grita para ser ouvido pelo presente.
Essa conta é bastante difícil, mas pode seguir a pista de um único documento sobrevivente, hoje no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Nele, o historiador João Carlos Nara encontrou a Procuradoria da Câmara de Vereadores tentando convencer o Tribunal a levar o Cemitério dos Pretos Novos de Santa Rita, uma região então bastante movimentada, para um local mais afastado, conhecido como Valongo – o que de fato aconteceu. Ao descrever as atividades, a Procuradoria apontou que houvera 220 enterramentos apenas no primeiro semestre de 1766. Se a média deste ano se mantivesse, ao multiplicar as mortes pelos 52 anos de cemitério, chegaríamos a total de mais de 20 mil pessoas “enterradas” por ali.
Era sobre esta história de escravidão e morte, em Santa Rita, que a prefeitura projetou passar a terceira e última linha do bilionário projeto do VLT, que custou, ao todo, R$ 1,1 bilhão aos cofres públicos. As obras da linha 3, que liga o aeroporto Santos Dumont à Central do Brasil, começaram em abril de 2018, sem qualquer conversa com a sociedade civil ou movimentos negros. Mas, ao saber dos trabalhos, não demorou para grupos de negros organizados reclamarem alto. Eles identificam ali ancestrais de suas histórias. Muitos arqueólogos também ligaram as sirenes, fizeram barulho, exigindo uma proteção atenta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, órgão diretamente responsável por preservar sítios arqueológicos.
O VLT foi obrigado a contratar uma empresa de arqueologia para realizar escavações. Foi formada então uma comissão, chamada de Pequena África, nome de uma área do centro do Rio, para acompanhar a execução das obras e, principalmente, para exigir que houvesse respeito à memória do povo negro do Rio de Janeiro. O primeiro pedido do movimento foi de que as obras da linha 3 fossem paralisadas, especialmente no trecho da igreja. O VLT atendeu, e começaram ali longos meses de debates sobre como o presente respeita o passado. Ou como o passado grita para ser ouvido pelo presente.

Obras demoraram 8 meses e reviraram o asfalto de toda a extensão da rua Marechal Floriano Peixoto.
Foto: Caetano Manenti
O VLT tinha pressa. O dinheiro do Ministério das Cidades e da Prefeitura (na Parceria Público Privada com o VLT) estava disponível, numa época de vacas magérrimas para obras urbanas no Brasil e no Rio. Para piorar, o início dos trabalhos, marcado para janeiro, atrasara em quatro meses.
‘Era a chance que se tinha de, finalmente, conhecer o passado do cemitério.’
Enquanto Iphan, VLT e movimento negro discutiam, a prefeitura do bispo Marcelo Crivella lavava as mãos. Os representantes do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade fizeram questão de dizer que a polêmica não era deles, mas do Iphan. O prefeito Crivella estava muito mais preocupado com o Memorial do Holocausto. Em junho, chegou a fazer um show beneficente e, cantor gospel que é, se apresentou de graça para ajudar na arrecadação.
No primeiro momento das conversas, havia pouco consenso. Mercedes Guimarães, presidente do Instituto dos Pretos Novos, entidade criada para gerir a memória daquele que foi o segundo cemitério de Pretos Novos do Rio, na região da Praça da Harmonia, não queria que os trens passassem por cima dos mortos de Santa Rita: “Eu acho não tinha que ter VLT aí. Tinha que ter era monumento, dizendo o que foi ali. Aquilo é um bloco testemunho. Ali tinha que se falar o que foi o cemitério, qual a intenção daquele cemitério, contar o período que ele funcionou”.

Empresa contratada de arqueologia realizou escavações em outros trechos, mas não no local onde havia o Cemitério de Pretos Novos de Santa Rita.
Foto: Tatiana Nukowitz/Divulgação Iphan
Muitos historiadores e arqueólogos, claro, queriam escavações, principalmente para proteger os ossos que sempre estão em risco em grandes obras de infraestrutura como essa. Era a chance que se tinha de, finalmente, conhecer o passado do cemitério, como defende Nara: “Se não temos muita documentação, é a arqueologia que deve suprir essa deficiência. Muita gente tem medo de que os remanescentes sejam tratados como fósseis. Artefatos arqueológicos serão aquilo que nós dissermos que eles são. Se nós dissermos que é um fóssil, ele será tratado cientificamente como tal. Se dissermos que é uma ossada, isso terá uma perspectiva forense. Se nós dissermos que são remanescentes humanos, isso implica que existe uma solidariedade, existe uma preocupação e uma afeição por aquilo”.
No meio de toda essa discussão, a prefeitura dava suas caneladas ou, no conceito do líder da oposição, o vereador Tarcísio Motta, do PSOL, suas “Crivelladas”. Em nota divulgada nos grandes jornais que se debruçavam sobre o assunto em agosto, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto, que representa a administração de Crivella no imbróglio, minimizava a certeza de que ali sim havia funcionado um grande cemitério de Pretos Novos. O documento dizia que “o trecho passará por pesquisa arqueológica como determina a legislação para melhor compreender o sítio arqueológico que se supõe que exista no Largo de Santa Rita, hoje ainda no campo da especulação”.
‘O trecho passará por pesquisa arqueológica como determina a legislação para melhor compreender o sítio arqueológico que se supõe que exista no Largo de Santa Rita, hoje ainda no campo da especulação.’
Este repórter estranhou tanto a declaração que fez questão de questionar a representante da prefeitura presente em reunião promovida pelo Ministério Público no fim de agosto. Afinal, a prefeitura desconhecia a existência do cemitério? A pergunta simplesmente não foi respondida. Eu voltaria a questionar o governo municipal em setembro, dessa vez em seminário no Arquivo Nacional, mas o representante de Crivella, Antônio Carlos Barbosa, presidente da CDURP, assinou a lista de presença logo na chegada do evento e foi embora.
Fato é que a prefeitura não se dedicou em dar visibilidade à existência do cemitério. Nenhum release, nenhuma postagem, nenhum debate, nenhum pronunciamento, nada foi feito para chamar a atenção de que a cidade tinha, à frente dela, com a avenida aberta para obras, um Cemitério de Pretos Novos ali. Na única oportunidade de falar da cultura e história africana no período, em cerimônia no Museu de Arte do Rio de Janeiro, o bispo apresentou um rodízio de gafes para todos os gostos, provando que sabe tanto de história do Brasil como governar a cidade, ou seja, quase nada.
“Villegagnon condenava a morte os soldados que furnicassem com as índias, embora a natureza fosse muito forte para atraí-los. Foi expulso dessa cidade. E vieram para cá os portugueses que já eram uma raça mestiça. Foram com as índias que os portugueses nos deram nossos primeiros heróis: os bandeirantes”, disse Crivella.
“Nem o Ibérico, nem o índio poderiam suportar o esforço da indústria do açúcar. Ela necessitava de uma força muito maior. Então vieram para cá muitos africanos. E hoje nós não somos brancos, nós não somos negros, nós não somos amarelos, nós não somos vermelhos, somos brasileiros”.
Voltando ao debate do cemitério, Luiz Eduardo Negrogun, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, estava revoltado com os nomes das estações que o VLT havia apresentado. A companhia insistia que as paradas tinham que ter referência geográfica e, assim, decidira que a última estação, próxima ao Palácio Duque de Caxias, quartel-general do Comando Militar no Leste, se chamaria Estação Duque de Caxias. Negrogun exaltou-se: “Não queremos esses nomes! Não vão ser esses nomes! Principalmente Duque de Caxias, racista, assassino, homofóbico!”.
Mas ainda havia a questão das obras e das escavações. O que fazer? Paralisar tudo? Desviar o traçado do VLT? Escavar para pesquisar? Para expor? Para ressepultar?
Negrogun disse que, mesmo dentro do movimento negro, havia muitas opiniões: “Tinha quem queria tirar os ossos. Outros que tivesse as escavações mas que deixassem janelas com os ossos à vista. Tinha uma outra discussão para impedir a obra. Mas nós não somos contra o progresso. Queríamos um diálogo para que houvesse uma reparação, um reconhecimento mínimo”.
O cemitério que a Prefeitura não deu nenhuma atenção virou, ao menos, nome de uma estação.
Negrogun trouxe enfim a opinião do Comitê: a comunidade negra não queria as escavações. “Se tem escavação, tem remoção dos artefatos encontrados. Aquilo não são artefatos, são ossos de nossos ancestrais. Não queríamos que fosse removido dali para serem levados para outro lugar, para ficar exposto, ou abandonado, encaixotado. Quando escava, você sabe como começa, mas não sabe como vai terminar”, diz. “É como se teus antepassados estivessem enterrados num sítio de vocês e aí passasse uma draga revirando todas aqueles ossos, aquilo ali seria uma profanação do leito eterno dos nossos parentes”.
O professor Nara não concorda com o termo profanação. “Salvamento arqueológico não é profanação. Salvamento é para salvar o que seria destruído”. Outra historiadora, a professora Mônica Lima, trazia, no entanto, um meio termo. Aceitava que pequenas mostras fossem coletadas para o estudo, mas preferia que o sítio arqueológico fosse preservado.“Eu fico pensando sempre nas pessoas e nas suas relações com a morte. Para os africanos, a relação com a morte tem uma importância enorme. Que direitos temos nós? Nós abriríamos as covas que se têm nas igrejas mais antigas do Rio para estudar aqueles corpos da sociedade branca?”
Enfim, quando o VLT mostrou disposição para alterar os nomes das estações, instalar tótens informativos sobre a história negra na região e ainda demarcar o espaço do cemitério com pedras portuguesas com desenhos de Rosas Negras, o Comitê da Pequena África, então, deu o ok para a continuação das obras. O Iphan também autorizou que os trilhos passassem sobre o cemitério. A prefeitura se deu por satisfeita e a obra, a partir de então, seguiu em ritmo acelerado até o fim de 2018.
Negrogun disse que a única sugestão que não foi acatada foi de alterar a última estação de Duque de Caxias para Almirante Negro João Cândido, um dos maiores heróis do movimento negro contemporâneo. No fim, nem um, nem outro: ficou estação Cristiano Ottoni (nome da Praça)/Pequena África. Uma outra agora se chama Camerino/Rosas Negras, enquanto a derradeira se chama Santa Rita/Pretos Novos. O cemitério que a Prefeitura não deu nenhuma atenção virou, ao menos, nome de uma estação.
De toda forma, Crivella, como era de se esperar, não foi poupado das críticas. A prefeitura tinha a responsabilidade de ter tratado a história negra com muito mais respeito e atenção. Assim como Pereira Passos, o bispo que virou prefeito, ao revirar o centro, não lembrou daqueles que construíram a cidade. A professora Mônica Lima considera que faltou uma compreensão do que o cemitério poderia significar. “As obras do centro do Rio não podem ser tratadas apenas como questão de mobilidade urbana, mas de uma relação com a história da cidade”. Mercedes Guimarães foi ainda mais dura: “Os pretos novos estavam esperando uma coisa melhor: um monumento, mas pessoas se meteram e, em vez de fazer uma coisa bacana, legal, infelizmente, aceitaram as migalhas do colonialismo”.
‘As obras do centro do Rio não podem ser tratadas apenas como questão de mobilidade urbana, mas de uma relação com a história da cidade.’
Até mesmo o prefeito Marcelo Crivella não parece muito satisfeito com o VLT, herança de Eduardo Paes e das administrações mdbistas na cidade, no estado e no país. Disse ele, recentemente, ao Valor Econômico: “Você acha justo um VLT, que foi negociado no tempo deles, que o município deve bancar, todos os dias, se não houver 300 mil passageiros? Hoje tenho 70 mil passageiros. E tenho que pagar 230 mil passagens diariamente. Você acha um bom negócio isso? São R$ 293 mil por dia, R$ 9 milhões ao mês”.
A linha 3 do VLT, que deveria ser inaugurada antes do natal de 2018, ainda não começou a operar. Crivella agora bate o pé e afirma que a prefeitura quer alterar o contrato que, segundo ele, dá prejuízo para os cofres da cidade. Não há mais uma previsão para o início das viagens. A instalação dos tótens também não tem prazo definido, tampouco a construção do mosaico em pedras portuguesas que vão delimitar a área do cemitério.
A comunidade negra espera que seja rápido, mais rápido que os 240 anos que já se passaram desde que o último Preto Novo foi descartado por ali.
PRECISAMOS DAS SUAS IDEIAS
O Intercept Brasil precisa da sua ajuda para definir sua estratégia editorial. É muito importante.
Nossa redação não tem patrão nem rabo preso. Somo 100% financiados por quem acredita em jornalismo independente: você.
Por isso sua opinião é fundamental para nós. E sua resposta é como uma doação.
Responda um breve questionário. É uma contribuição acessível a todos e ajuda a definir o futuro do Intercept.
Esta pesquisa leva menos de 3 minutos e vai ajudar a orientar nossas próximas investigações e iniciativas.
Cada resposta conta.
PARTICIPE AGORA