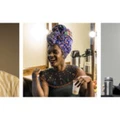No dia 30 de agosto, postei no Twitter uma foto com minha mãe. Estávamos juntas no hospital. Era meu primeiro plantão como estudante de medicina no hospital onde ela é a enfermeira. Ao ver a foto e a repercussão, passou um filme na minha cabeça, porque, para que eu conseguisse hoje estudar medicina em uma universidade federal, houve duas outras mulheres pretas lutando antes de mim.
Meu avô foi assassinado após uma briga com um vizinho, deixando minha avó, que nunca tinha trabalhado, sozinha para sustentar quatro filhos. Ela teve que se mudar, reorganizar a família e começou a trabalhar como empregada doméstica. Chegou a ter que pedir esmola na rua.
Nesse momento, minha avó já tinha passado por inúmeros problemas psicológicos: teve depressão pós-parto e havia sido traída pelo meu avô. Ela chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico – e até tomou choque.
Quando minha mãe e meus tios se tornaram adolescentes, começaram a trabalhar no Mercado Municipal de Recife para auxiliar nas despesas da casa. Minha avó não incentivava o estudo, mas o trabalho. Quando você é pobre, a sua prioridade não vai ser estudar ou lazer, sua prioridade vai ser comer. Se você não come, não tem como pensar no amanhã.
Depois do mercado, minha mãe começou a trabalhar em uma lavanderia. Ela sempre quis ascender socialmente, e via a importância da educação para isso, e com esse emprego ela pôde pagar um curso de auxiliar de enfermagem, em meados de 1997, que serviu como portal de acesso ao ambiente hospitalar.
Quando você é pobre, a sua prioridade não vai ser estudar ou lazer, sua prioridade vai ser comer. Se você não come, não tem como pensar no amanhã.
Minha mãe só conseguiu terminar o ensino médio depois que eu nasci. Eu cheguei a ir para aulas com ela. Quando ela voltou a estudar, não parou mais: em 2005, entrou no curso superior de enfermagem em uma universidade privada. Imagine só: há 15 anos uma mulher preta retinta começar um curso superior, um lugar de prestígio que, considerando o contexto da época, não era esperado para uma pessoa negra.
Ela tinha uma rotina muito pesada: trabalhava todas as noites, de domingo a domingo, durante quatro anos e, nas manhãs, ela tinha aula. A tarde é o que sobrava para estudar, ficar comigo e com a minha irmã e fazer o que ela gostava. Nós perdemos muitos momentos juntas, finais de semana e datas comemorativas.
Não tinha o suporte do meu pai, já que eles sempre foram separados, e minha mãe era mãe solo. Eles tiveram uma outra filha, minha irmã, depois de uma reaproximação, que aconteceu quando eu tinha seis anos: foi depois que eu sofri um grave acidente de ônibus, em que fraturei a perna. Eu e minha avó fomos visitar um tio que estava casando no Rio de Janeiro e, no caminho de volta, em Feira de Santana, na Bahia, o ônibus capotou. Estava sem cinto e fui lançada para fora do ônibus. Fiquei muito tempo sem andar, com um gesso que vinha até abaixo da mama e cobria a perna direita inteira e metade da esquerda. Meus pais tiveram que se aproximar para cuidar da minha saúde.
Meu pai contribuía da forma que bem entendia, sem muita regularidade de datas. Nós tínhamos encontros a cada 15 dias. Mas isso durou até um certo momento da minha vida. Minha mãe colocou ele na justiça para regularizar os pagamentos, nós nos afastamos muito e minha mãe assumiu totalmente nossa criação. A partir daí, ele contribuiu com a parte obrigatória, estipulada pela justiça, mas no dia a dia sempre fomos nós três: eu, minha irmã e minha mãe.
Ascensão pela educação
Quando minha mãe se formou, encontrou trabalho como enfermeira e, em 2013, conseguimos comprar um apartamento e nos mudar. Antes disso, morávamos em uma favela de Recife, em uma comunidade de invasão que não tinha saneamento básico. Atrás da minha casa passava um córrego com lixo e esgoto. A educação nos propiciou uma casa melhor.
Mesmo que minha mãe nunca tivesse lido um livro feminista, a sociedade nos forçou a ter essa independência
E o estímulo de ascender socialmente e ter uma vida melhor graças à educação sempre veio da minha mãe. Inclusive pelo fato de ser mãe solo ela criou essa consciência em mim de que eu tinha que ser independente e conquistar minhas coisas. Mesmo que ela não me falasse diretamente sobre feminismo, ela e minha avó foram os maiores exemplos de feministas que eu tive: mulheres provedoras da família, que eram a cabeça, que resolviam tudo. E minha mãe encontrou na educação uma forma de conseguir prestígio e respeito. Mesmo que ela nunca tivesse lido um livro feminista, a sociedade lembrou e nos forçou a ter essa independência, porque ou era isso, ou estaríamos fadadas a viver na miséria para sempre.
Pela importância que ela via na educação, durante meu ensino básico ela sempre buscou pagar escolas particulares. Não estudei na melhor escola da cidade, mas na que era possível pagar.
Quando terminei o ensino médio fui fazer cursinho. Tinha vontade de cursar medicina, mas considerava um sonho muito distante. Era algo praticamente inalcançável, na verdade, primeiro porque não tinha referência nenhuma de pessoas que haviam estudado em uma universidade pública na minha família, nem por parte de pai nem por parte de mãe. Em segundo lugar, porque medicina é um curso totalmente elitista e elitizado, e só pessoas brancas, em sua maioria, ingressam nele.
Optei, então, por cursar engenharia, porque era uma realidade mais alcançável. Ao mesmo tempo, para seguir tentando medicina, consegui bolsa parcial em um cursinho famoso de Recife, que com muito esforço minha mãe conseguiu pagar. Cheguei muito fraca nas aulas e achava que não ia conseguir passar no vestibular. Tinha dificuldades em contas de dividir.
Comecei a ter contato com outras pessoas que eram monitoras nas aulas e que tinham um passado pelas mesmas dificuldades que eu. Percebi que era possível desde que eu não desistisse e continuasse estudando. Percebi, também, que era impossível me dedicar ao curso de engenharia e ao cursinho. Abandonei a faculdade e decidi me dedicar apenas ao vestibular de medicina.
Foram quatro anos do cursinho, com melhoras, muita dedicação e até um ano em que abri mão de tudo, festas, encontro com amigos, para focar só em estudar. No último ano que fiz o vestibular, tive um problema familiar envolvendo assédio com meu ex-padrasto e decidi que precisava de um plano B, para caso não passasse. Optei por um concurso para ser oficial de polícia na Paraíba em que a prova teórica era feita com a nota do Enem. Após anos fazendo a prova, graves crises de ansiedade e uma consulta no psicólogo, consegui ficar calma e fazer bem o teste. Saí acreditando que tinha capacidade de entrar na universidade.
Quando saiu a nota pelo Sisu, percebi que a minha era compatível com o ponto de corte dos outros anos. Não consegui passar na primeira chamada, em compensação, passei em primeiro lugar do concurso. Fui para João Pessoa para me preparar para o teste físico. Passei nas etapas de saúde e psicotécnico. Mas eu tinha um problema na prova física: precisava ficar dez segundos sustentando o corpo na barra fixa, e eu não conseguia ficar um segundo. Meu treinador foi da primeira turma de choque da Paraíba. Ele me ameaçava de várias formas para que eu conseguisse fazer a barra. Chegou a estourar um ovo na minha cabeça. Resultado: não consegui fazer o teste físico porque estava lesionada no braço e na perna.
Fiquei muito desacreditada: não passei em medicina e não tinha mais o concurso.
Uns dias depois, enquanto ainda estava em João Pessoa, começou o remanejamento da universidade que havia me inscrito, a UNIVASF, e nove pessoas entraram na faculdade. No segundo, seis pessoas foram remanejadas. Estava na 18ª posição e pulei para a terceira. Por sorte ou destino, uma pessoa desistiu e as outras duas eram de outras cidades, e foram remanejadas para universidades de suas localidades. Ainda estava em João Pessoa quando descobri que passei. Fiz minha mala e, no dia seguinte, estava em Recife para organizar os documentos necessários e a viagem a Petrolina para realizar a matrícula.
‘Curso de pessoas brancas’
Não é novidade para ninguém que o curso de medicina é um curso de pessoas brancas, mas a minha turma tinha uma peculiaridade: de 40 pessoas, cinco eram negras.
Não foi um choque de realidade muito grande a maioria branca, confesso, porque no cursinho eu já percebia essa discrepância em relação à questão racial – as pessoas negras que tinham acesso ao cursinho ou recebiam algum desconto ou eram bolsistas que trabalhavam lá para poder estudar.
Não tive o susto, mas agora, já no 5º semestre da faculdade, tenho histórias de outras situações desagradáveis. Por exemplo, um dia estava me arrumando para uma intervenção cirúrgica, e a touca não coube no meu cabelo, porque toucas de ambientes hospitalares não são pensadas para cabelos crespos, cacheados ou volumosos no geral. As pessoas riram da situação e eu não sabia como contornar o que estava acontecendo.
Sou muito realizada com o meu curso, mas não sou “medlife por amor”. Por conta da minha história de vida e do incentivo da minha mãe, sempre tive a consciência de que teria que lutar pelas minhas coisas e que nada cairia do céu, principalmente por ser mulher, negra, nordestina e pobre. Mas encontrei na medicina – e na educação – o caminho para uma melhora de vida. Fazer medicina me proporcionou trabalhar em um hospital, no mesmo hospital que a minha mãe. E consegui acompanhar meu primeiro plantão graças a ela: por trabalhar na UTI, ela conversou com uma das médicas plantonistas para que, nas minhas férias, em visita ao Recife, eu pudesse acompanhá-la.
Eu não sei descrever detalhadamente o que foi que eu senti naquele momento, mas o peso da representatividade foi muito forte – e não só pra mim. Hoje eu compreendo o papel que eu ocupo dentro da universidade, de toda minha história, de ter sido a mulher preta que veio da periferia e está ocupando um espaço majoritariamente de pessoas brancas, e que precisa provar o tempo todo que é boa, porque as pessoas já duvidam de você naturalmente.
Estar naquele ambiente e ver a minha mãe como enfermeira do plantão, naquele dia fez com que eu lembrasse toda a história da minha família. Fico imaginando o peso que foi para a minha avó: será que um dia ela imaginou que a filha dela seria enfermeira e a neta médica, depois de todos os vizinhos e conhecidos dizerem pra ela que seus filhos seriam puta e ladrão?
Além disso, há a importância para outras meninas negras que não se enxergam ocupando o espaço que eu ocupo hoje. Ter essa compreensão do processo e saber que isso influencia positivamente outras meninas negras que não veem negras médicas ou estudantes de medicina negras dentro dos hospitais é o mais gratificante.
Talvez nessa hora eu tenha me vestido com um pouco da soberba que a sociedade coloca no curso – até porque não fiz nada de mais no meu primeiro dia no hospital –, mas o que realmente pesou foi a representatividade: era uma estudante preta dentro do hospital, com a mãe preta que era enfermeira.
Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:
Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.
Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!
Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!
Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!
Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.