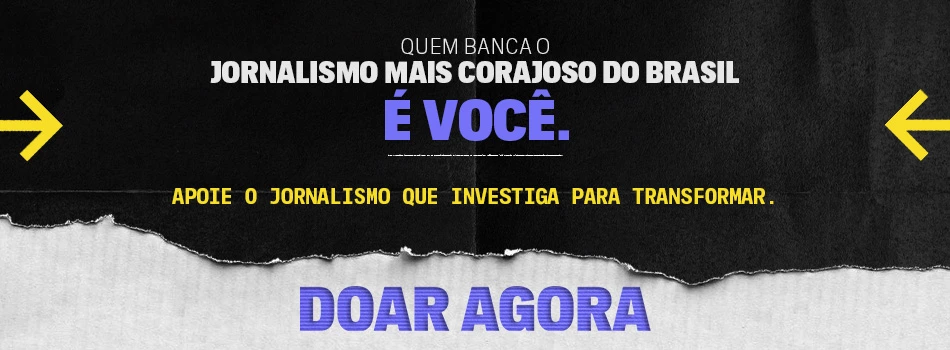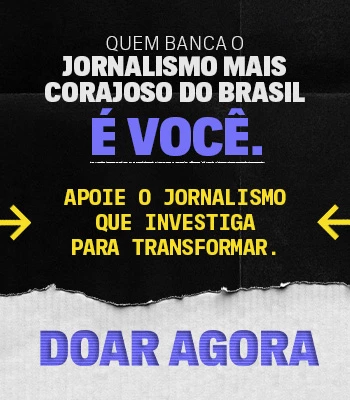As ameaças à liberdade de expressão e o autoritarismo do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro fizeram a imprensa se movimentar: hoje, os principais jornais se posicionam como defensores da democracia, relembram episódios de censura que sofreram durante a ditadura militar e o papel que tiveram na campanha das Diretas Já. Mas há uma parte da história da qual ela prefere esquecer: seu papel no golpe de 1964 e na defesa do regime.
No livro “Nem tudo era censura”, lançado no ano passado, o historiador João Teófilo cruzou informações, depoimentos e documentos para contar a versão que a grande imprensa prefere fingir que não aconteceu. “Em vários estados, os principais jornais da época compuseram a aliança civil-militar que ajudou a implantar a ditadura. Foi notório o apoio dos jornais O Globo, Folha e Estadão, no sudeste; Zero Hora e Correio do Povo, no sul; e O Povo, no nordeste”, ele me disse, em conversas por e-mail e por Zoom. “Mas a memória que essa imprensa construiu sobre si é bastante curiosa: além do silêncio sobre questões incômodas, o que marca essa memória é uma narrativa carregada de resistência, como se todos estivessem na oposição ao regime o tempo todo”. Não estavam.
Os veículos costumam lembrar como eram censurados, publicando poemas de Camões no lugar das páginas vetadas pelo regime militar ou cobrindo as campanhas das Diretas, deixando o apoio editorial e até estratégico à ditadura em uma gaveta esquecida da memória. “A censura também atingiu apoiadores da ditadura, sobretudo na fase mais repressiva do regime. O problema é o superdimensionamento dessa resistência, forjando uma leitura do passado que não corresponde à realidade”, diz o historiador, hoje pesquisador do Laboratório de História do Tempo Presente da Universidade Federal de Minas Gerais.

Cruzando fatos, documentos e depoimentos, livro conta a história que a imprensa tenta editar.
Foto: Reprodução
A Folha de S.Paulo, por exemplo, lançou no final do mês passado uma nova campanha em defesa da democracia. Ela usa como base a clássica fotografia de Evandro Teixeira, que mostra um estudante sendo perseguido por policiais em 1968. “Nós vimos e nunca esqueceremos os horrores da ditadura. E sempre defenderemos a democracia”, diz o jornal.
Na primeira semana de julho, a ombsudsman da Folha, Flavia Lima, reconheceu o fato. “Em editorial sobre os 50 anos do golpe, a Folha repudia o regime militar, mas esclarece em determinado trecho: ‘Isso não significa que todas as críticas à ditadura tenham fundamento. […]’. Sim, é possível contar uma ficção dizendo só verdades. Com raras exceções, a imprensa apoiou o golpe civil-militar de 1964″, ela disse. Também fez a ligação com o presente: “Embora durante a sua campanha eleitoral o presidente Jair Bolsonaro só tenha apontado o dedo para a Globo, o fato é que, como um todo, os grandes veículos de comunicação tiveram papel importante no xadrez político que desembocou na ditadura”.
É por isso, diz Teófilo, que é preciso também pensar na atuação desses grandes veículos no atual processo político do país, que permitiu a ascensão da extrema-direita. “É curioso que essa mesma imprensa tem convivido com ataques sistemáticos perpetrados pelo atual presidente; coisa semelhante aconteceu àqueles que não foram simpáticos aos ditadores militares no passado”, diz.
Para o historiador, é preciso recontar o passado não tomando por verdade absoluta o que a imprensa publica sobre si mesma, mas também o que dizem os depoimentos (das testemunhas que viveram a época, que trazem bastidores que não estão contemplados nem nos editoriais nem nas reportagens) e os documentos (os relatórios dos órgãos oficiais de repressão, os registros de monitoramento de atividades, entre outros). Foi o que fez o autor para escrever “Nem tudo era censura”, um desdobramento de sua dissertação de mestrado defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Nesta entrevista ao Intercept, o autor fala sobre o apoio da imprensa à ditadura militar, a importância da autocrítica e o papel do jornalismo na defesa da democracia ontem, hoje e amanhã.

Historiador questiona a versão de que a grande mídia foi vítima – além da censura, também houve apoio e cumplicidade.
Foto: Letícia Reis
Intercept – Nos últimos tempos discute-se muito a História, a de letra maiúscula. Que História é esta que ‘fica para sempre’?
João Teófilo – A história lida com o acontecido, com aquilo que passou. É uma tentativa de buscar compreender como a humanidade viveu em diferentes tempos, lugares, enfim, a própria evolução humana. Aquilo que vivemos hoje é resultado das ações humanas no passado, que ajudaram a moldar política e culturalmente a sociedade do presente. Esses processos precisam de historiadores e outros profissionais de áreas próximas para se tornarem inteligíveis, pois, se não forem estudados e resgatados, correm o risco de sumir no tempo. Assim, a história pode não ficar “para sempre”. Por sorte, assuntos como a escravidão e as ditaduras (que antes eram contados a partir da perspectiva dos escravocratas e dos ditadores) podem ser alvo de novas abordagens que podem ajudar a esclarecer fatos e sujeitos que antes estavam na sombra, no silêncio.
Isso porque a história é construída por outros sujeitos que detêm força para determinar o que deve ser esquecido ou lembrado. Assim, a construção do saber histórico pode se chocar com outras forças sociais que não querem que certos fatos sejam narrados, ou que sejam narrados a partir de certos vieses, filtrando o quê lembrar e como lembrar. E, como certa vez disse [o historiador britânico] Peter Burke, a função do historiador é lembrar o que a sociedade quer esquecer.
A história da ditadura militar marca discussões atuais na imprensa. O que vem sendo lembrado e esquecido desse passado?
Há tempos se estuda a relação da imprensa com a ditadura militar. Há jornalistas e jornais, principalmente ligados à imprensa alternativa, que se opuseram ao regime, como bem mostrou o jornalista Bernardo Kucinski no livro “Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa” – O Pasquim é o exemplo clássico. Mas, salvo essas exceções importantes, a grande imprensa não foi apenas entusiasta do golpe de 1964, que derrubou João Goulart [1919-1976], mas também da própria ditadura. Em vários estados, os principais jornais da época compuseram a aliança civil-militar que ajudou a implantar a ditadura. Foi notório o apoio dos jornais O Globo, Folha e Estadão, no sudeste; Zero Hora e Correio do Povo, no sul; e O Povo, no nordeste. Mas a memória que essa imprensa construiu sobre si é bastante curiosa: além do silêncio sobre questões incômodas, o que marca essa memória é uma narrativa carregada de resistência, como se todos estivessem na oposição ao regime o tempo todo.
Virou lugar-comum, por exemplo, a lembrança dos poemas de Camões que ocuparam páginas censuradas. Ou seja, joga-se muita luz sobre os casos de censura, enquanto o apoio rotineiro desses jornais acaba ficando na penumbra. A censura também atingiu apoiadores da ditadura, sobretudo na fase mais repressiva do regime. O problema é o superdimensionamento dessa resistência, forjando uma leitura do passado que não corresponde à realidade.
A história é construída por outros sujeitos que detêm força para determinar o que deve ser esquecido ou lembrado.
Essa memória não é nova, começou a ser gestada durante a transição para a democracia. Para se ter uma ideia, a jornalista Thereza Cesario Alvim organizou um livro intitulado “O golpe de 64: a imprensa disse não” já em 1979, ajudando a mistificar um certo heroísmo no jornalismo brasileiro no período. Entretanto, essa memória ficou bastante evidente na efeméride dos 50 anos do golpe, em 2014. Muitos jornais e jornalistas abordaram o tema, quase sempre enfatizando a censura e silenciando os apoios. Mas, ao contrário, a grande imprensa foi muito mais apoiadora e colaboradora do que opositora da ditadura. A lembrança que eles querem que fique é a que indica rompimentos: a imprensa teria apoiado os militares até certa altura, mas depois, com o acirramento da censura e da perseguição a jornais e jornalistas, teria passado para o campo da resistência.
Quer dizer, ‘nem tudo era censura’.
Sim, a expressão, que está no título do meu livro, é uma espécie de provocação a essa memória. E o alcance dos apoios ao golpe e à ditadura extrapolou o eixo Rio-São Paulo. No Ceará, por exemplo, havia jornalistas inclusive contrários às Diretas. Havia quem considerasse o movimento um pretexto para a volta dos comunistas ao poder, que os militares teriam alijado da política para “salvar o Brasil” em 1964. Havia também quem apoiasse a censura, por entender que muitos jornais estariam disseminando ideias subversivas ou inadequadas moralmente e, portanto, a censura seria um instrumento válido.
O jornal O Povo [de Fortaleza], em particular, era abertamente favorável à Arena, partido dos militares. O jornalista Paulo Sarasate, um dos fundadores do diário, era muito próximo do ditador Castelo Branco. Também foi um dos fundadores da Arena no Ceará após a extinção da UDN [que ocorreu em 1967]. Em períodos eleitorais, os editoriais eram verdadeiros manifestos a favor dos candidatos arenistas. No início dos anos 1970, por exemplo, um relatório da Polícia Federal ao Serviço Nacional de Informações atestava que o clima da imprensa cearense era “tranquilo”, isto é, de alinhamento com a ditadura.
Outro relatório cita o jornalista Teobaldo Landim, chefe de reportagem dos Diários Associados, como um sujeito leal à “Revolução de 64”, além de um primoroso informante, sempre fornecendo informações aos órgãos de repressão, contribuindo com as investigações. É possível encontrar atritos desses jornais com o regime, mas foram por razões pontuais. Eles seguiram defendendo o golpe como uma revolução redentora e, ainda que tenham acreditado que em 1985 tivesse chegada a hora de os militares deixarem o poder, a perspectiva era de que eles deixaram o Brasil em ordem e, não havendo mais “ameaça comunista”, poderiam voltar aos quartéis. No fim, eles pensavam que o saldo da ditadura foi positivo.

Foto: Reprodução
Nos últimos anos, Globo, Folha e Estado publicaram editoriais de mea-culpa referente à ditadura. Admitir o erro editorial é suficiente como autocrítica?
A sucessão de mea-culpa aconteceu na época da efeméride dos 50 anos do golpe. A conjuntura fez com que esses jornais se manifestassem, muito para se antecipar a certos questionamentos que poderiam ser feitos pela sociedade. Aquela memória de uma imprensa resistente certamente não conviveria harmonicamente com os novos tempos, então foi preciso pôr o dedo na ferida.
Apesar de reconhecer o erro, havia pontos em comum nesse reconhecimento: a narrativa de um contexto histórico que caracterizou o golpe como um evento quase que inevitável, como resposta a uma crise existente, como se não houvesse outra saída. Era como se houvesse uma espécie de crença nas “boas intenções” dos militares, como se não soubessem que a ruptura institucional fosse descambar para uma ditadura, como se tivessem ingenuamente apoiado a saída autoritária. Além disso, as narrativas tratavam a ditadura como um passado morto, que ficou para trás, desconsiderando as continuidades do período na sociedade contemporânea.
Uma democracia não nasce saudável se não passar seu passado a limpo.
Admitir um erro é um bom caminho para uma autocrítica, mas considero importante pensar na atuação desses jornais no processo atual, que permitiu, ao fim de tudo, a ascensão da extrema direita ao poder em 2018: a vitória de um candidato que fez carreira política defendendo não apenas o que foi a ditadura militar, mas um tipo de governo nesses moldes. É curioso que essa mesma imprensa tem convivido com ataques sistemáticos perpetrados pelo atual presidente; coisa semelhante aconteceu àqueles que não foram simpáticos aos ditadores militares no passado. A informação é elemento essencial para uma democracia saudável – e jornais e jornalistas têm denunciado corajosamente os atuais ataques às instituições. Uma imprensa livre é elemento essencial para enfrentar tudo isso e impedir que episódios como os dos anos 1960, 70 e 80 voltem a se repetir. Não há democracia sem imprensa livre.
Dá pra passar o passado a limpo e andar para frente, na defesa da democracia? Ou é hora de virar a página, já que agora as condições são outras e talvez lembrar um passado não tão glorioso é fogo amigo?
No Brasil e outros países que viveram regimes ditatoriais, muito se disseminou que para andar para frente seria preciso deixar o passado para trás. É uma retórica ideologizada que deseja impor o silêncio sobre os crimes do passado, forjando uma falsa reconciliação. Com isso se quer impor uma democracia amnésica, cuja sociedade não deveria lembrar de um regime anterior que ceifou vidas, cerceou liberdades, limitou instituições, perseguiu opositores políticos. Uma democracia não nasce saudável se não passar seu passado a limpo.
Do contrário, esse passado não passa, como diria [o historiador francês] Henry Rousso.
O Brasil ainda precisa tirar seus esqueletos do armário. Daí a importância do processo de justiça de transição, termo formulado no início dos anos 1990, que visa revelar a verdade sobre crimes passados, responsabilizar violadores de direitos humanos, reparar vítimas, reformar instituições ligadas aos crimes e promover a reconciliação nacional. A Argentina, após a ditadura, e a África do Sul, após o apartheid, são exemplos bem paradigmáticos de justiça de transição.
Para não esquecer das vítimas, é também importante lembrar de seus carrascos. Mas nunca para homenageá-los.
No Brasil, o processo foi muito tardio: iniciou-se só em 1995, isto é, passados 10 anos do fim da ditadura, com a Lei dos Desaparecidos Políticos; e a Comissão da Verdade só foi instituída em 2012. Outra peculiaridade desse processo no Brasil é a impunidade: protegidos por uma lei de anistia, de interpretação equivocada, nenhum torturador foi preso. Atualmente, além de tudo, o presidente nega ou relativiza a ditadura, inclusive incitando comemorações ao golpe e dando declarações descabidas, como ilustra o episódio envolvendo o desaparecido político Fernando Santa Cruz, pai de Felipe Santa Cruz (“se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu, eu conto”, provocou Bolsonaro, em 2019).
Integrantes da Comissão de Anistia e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos também foram trocados por sujeitos simpatizantes à ditadura. Ou seja, é uma estratégia de desmonte. Não é possível virar essa página se a sociedade não consolidar o que foi esse passado. Hoje colhemos frutos de uma série de escolhas: não punir torturadores, reincorporar à política uma velha elite ligada à ditadura, fazer alianças espúrias em nome da tal governabilidade, enfim, os exemplos são muitos. Entendo a complexidade do momento em que vivemos, da necessidade de uma frente ampla e tudo mais, mas é preciso ter cautela, estar atento aos oportunistas do momento, aos democratas de ocasião. Se optarmos pela escolha de deixar de lado esse passado, daqui a 20-30 anos, poderemos novamente estar vivendo situação similar.
Hoje se discute a derrubada de estátuas de escravocratas. Também é antiga a demanda para mudar nomes de ruas e construções que lembram militares da ditadura. O que pensa dessa discussão?
Primeiramente, é válida, legítima e extremamente compreensível a indignação por conviver com estátuas, ruas, praças e prédios públicos que fazem referências a ditadores, escravocratas, genocidas. Esses espaços existem aos montes e no mundo todo. No Brasil, a mudança de nomes de ruas nos últimos anos, sobretudo no contexto da Comissão da Verdade, foi muito positiva pois pautou discussões na sociedade – e o Black Lives Matter as reacendeu.
Derrubar monumentos e renomear ruas parecem ser a solução mais óbvia, mas, ao mesmo tempo, isso traz preocupações sobre a possibilidade de apagar a memória de barbáries para as gerações futuras. Há aquela máxima de lembrar para não esquecer, para não repetir. Talvez o melhor caminho seria uma ressignificação desses monumentos, com intervenções para contextualizar quem foi quem e fez o quê, para mostrar para a sociedade que em determinado contexto histórico foi possível enaltecer a barbárie, genocidas, tiranos, mas que a sociedade atual não mais compactua com isso e nem deve. Às vezes, para não esquecer das vítimas, é também importante lembrar de seus carrascos. Mas nunca para homenageá-los.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?