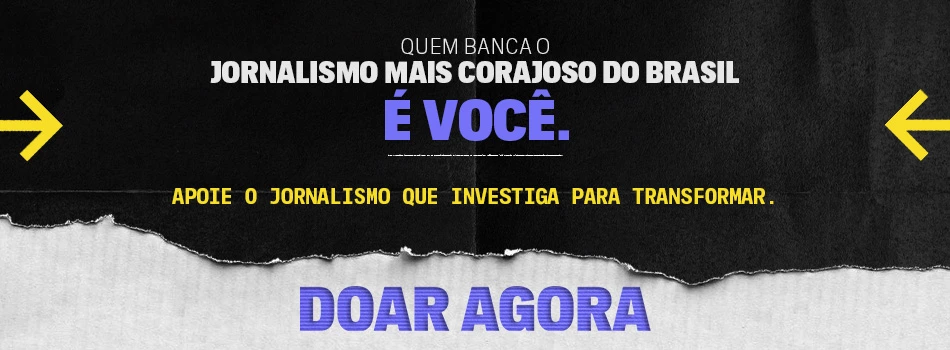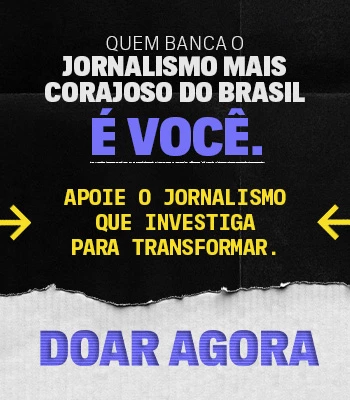Ilustração: The Intercept Brasil; Getty Images
De todos os problemas da pandemia no Brasil, um dos principais é a dificuldade de criar um discurso público que dê conta da real dimensão da situação e foque em soluções que poderiam nos tirar desse abismo. Por um lado, alguns estão presos na tentativa constante de achar responsáveis individuais pelo recrudescimento dos casos e mortes. São as festas cada vez maiores dos vizinhos, os manauaras, os chineses, os italianos. O vírus está sempre vindo de algum outro lugar distante da gente. Outros fazem um discurso oposto, afirmando que as ações individuais têm pouco impacto para o desenrolar dessa história. A máxima parece ser a do próprio presidente quando disse “se eu me contaminei, isso é responsabilidade minha e ninguém tem nada a ver com isso”. Em ambos os casos, a atribuição da responsabilidade individual a outras pessoas e a incompreensão da própria responsabilidade diante dos demais denunciam a falta de percepção das complexidades dos fatores sociais e estruturais em jogo na pandemia.
A psicologia social já produziu diversos estudos sobre o impacto negativo da atribuição de responsabilidade individual em casos de doença. Por exemplo, se preciso de auxílio médico porque fui atingido por um raio, a responsabilidade será dada ao ambiente (que azar!), e a resposta tenderá a ser empática. No entanto, se uma pessoa é internada em função de ter ingerido alguma substância tóxica, a responsabilização provavelmente será individual (a culpa é sua que não prestou atenção!) e, neste caso, a resposta será menos empática, com menor intenção de ajudar.
Quando levamos em conta doenças que são estigmatizadas, a situação se torna ainda mais complicada. No caso do HIV/aids, por exemplo, mesmo profissionais de saúde atribuem mais responsabilidade individual da infecção para um paciente homossexual do que para um heterossexual, em situações equivalentes de transmissão, mas especialmente em casos em que a pessoa fez sexo sem preservativo (ele/ela precipitou sua contaminação!). Um cenário parecido ocorre agora com a covid-19: aparentemente é mais fácil responsabilizar pessoas de grupos diferentes dos nossos e, por esse motivo, ficar menos disposto a tomar medidas para ajudar a comunidade no sentido mais amplo. Mas podemos realmente responsabilizar tão facilmente as pessoas pelo seu adoecimento no caso de sexo desprotegido ou por ter saído sem máscara?
Esse discurso da individualização de um fenômeno de saúde pública como a pandemia de covid-19 chama ainda mais a atenção por acontecer no Brasil, depois de décadas da implementação de um programa de referência em saúde coletiva, com a prevenção e o tratamento de HIV/aids como destaque. Ou seja, de todos os lugares do mundo e com toda experiência acumulada, o Brasil não deveria estar passando por esse processo.
Nas décadas de 1980 e 1990, um sanitarista norte-americano chamado Jonathan Mann revolucionou a forma como se encarava a saúde pública no contexto do HIV. O foco da sua abordagem era considerar os seres humanos vulneráveis ao adoecimento em função da maneira como são tratados pela sociedade, colocando os direitos humanos no centro do debate. Foi essa visão que influenciou uma série de organismos internacionais e incentivou uma nova forma de resposta, especialmente no Brasil.
A visão de Mann se opunha ao moralismo simplista que responsabilizava os suscetíveis, os doentes e até os mortos por problemas de saúde cujas causas sociais estavam sendo ignoradas. Pensem no HIV/aids nos inícios dos anos 1980. Primeiro, foi visto como uma espécie de câncer gay já que a maioria dos infectados eram homens homossexuais. Nessa época, inclusive, se tentou localizar um suposto paciente zero que teria sido um comissário de bordo chegado a festas orgásticas que espalhara o vírus pelo mundo. Essa forma de encontrar culpados enxergava a doença como externa a uma sociedade supostamente saudável.
Foi esse discurso que ajudou a criação de soluções centradas nos indivíduos, seja pela via da exclusão social explícita e do fomento direto e indireto da autoexclusão. Temos um problema de HIV, o que podemos fazer dado nosso atual estado de coisas? Fechar as boates gays? “Curar” a homossexualidade? Promover a abstinência sexual? Sem levar em conta a necessidade urgente de se reconhecer os direitos e em alguns setores até a existência de minorias sexuais, se negou – e ainda hoje se nega – o uso de preservativos e educação sexual, pois supostamente estimulariam a sexualidade precocemente, reforçando a ideia de que homens e mulheres homossexuais e seus modos de vida são errados. Pensem no livro best-seller Faggots, de Larry Kramer, por exemplo, ou na morte social que antevia a morte física pela infecção por HIV como no filme Filadélfia.
Gradativamente, a visão de que o HIV e a aids não diziam respeito a alguma característica intrínseca de um grupo foi dando lugar à ideia de que alguns comportamentos de risco (como sexo sem preservativo) poderiam ocorrer com mais frequência em certos contextos de vulnerabilidade que geralmente envolvem ausência de direitos fundamentais e discriminação.
Uma imagem exemplar desse processo é do sociólogo, escritor e ativista brasileiro Herbert Daniel, que dizia que o vírus do HIV se alastra pelas fissuras da sociedade. Ou como ressaltou o antropólogo norte-americano Richard Parker: o vírus ideológico (isto é, a estigmatização dos gays) amplia as fissuras por onde transita o vírus biológico. Portanto, garantir direitos fundamentais passou a ser central para prevenir o alastramento da doença. Sob a perspectiva de Mann, sai de cena a responsabilização e a tentativa de revisão de comportamento de indivíduos supostamente desviantes e entra a revisão de uma sociedade produtora dessa noção excludente de supostos desvios.
Nada disso poderia estar mais distante do que se passa com a resposta brasileira à covid-19 no Brasil hoje. O governo, ao não assumir uma gestão coletiva do problema, enquadra a covid-19 no seu sentido meramente biológico e individual. Se não há modelo de sociedade sendo pensada, a pandemia é automaticamente reduzida ao seu caráter mais elementar, e a gestão da doença é feita de forma paliativa, evitando mortes. As estratégias de controle e cuidado se tornam eufemísticas (a palavra lockdown é proibida!), com sentido muito alheio aos sanitários em um teatro de mudanças constante de parâmetro e cores nas regiões de risco, cálculo de mortes e casos, além da promoção de falsos tratamentos milagrosos que mais matam do que curam.
Nesse cenário, muitos (sobretudo o governo federal) veem a imposição de medidas de saúde pública entrando em um conflito com os direitos individuais, já que as ferramentas de controle da covid, por enquanto, são educação para prevenir o contágio, distanciamento social e vacinação. A situação fomentada é de uma guerra de responsabilização individual em que todos estão contra todos sem entender que o problema envolve soluções coletivas, que precisam ser iniciadas e organizadas primeiro pelo presidente da República. Em uma perspectiva de saúde com direitos humanos no centro, essa guerra estabelece um falso dilema. A proteção da maioria da população depende justamente da proteção dos direitos e da dignidade das pessoas vulneráveis e doentes.
Assim como no caso do HIV/aids, é natural que as pessoas desejem seguir sua vida sexual de forma a ter direito ao prazer. No caso da covid-19, é natural que se deseje sair de casa, abrir um pequeno negócio para evitar a falência ou deixar seus filhos na escola. No entanto, existe uma diferença entre dizer “eu gostaria de poder sair de casa” ou “eu preciso abrir minha loja já” do que dizer “enquanto cidadãos deste país temos direito à renda e à educação”.
Nesse sentido, o que pode ser feito para que a vida, com as limitações impostas pela covid-19, possa seguir com esses direitos garantidos? É na resposta de perguntas como esta que se dá a interseção da saúde com a garantia de direitos.
Impossível não pensar outra vez na obra de Herbert Daniel afirmando que o vírus da aids circulava justamente pelas fissuras da sociedade. Se os governos não tivessem feito nada no plano coletivo, as pessoas seguiriam fazendo sexo ou compartilhando seringas nas condições precárias de vida que sempre estiveram dadas, e a epidemia teria provocado ainda mais mortes do que provocou. O mesmo parece ocorrer com a covid-19, que afeta mais negros e mulheres: o vírus corre nas fissuras históricas do Brasil e é reforçado pela falta de lideranças competentes para operar uma resposta sanitária humanitária sem ser vítima de grupos de interesses com pouquíssimos escrúpulos.
O recurso quase exclusivo à responsabilização individual para a pandemia, após tantos anos de experiência acumulada na saúde pública e garantia de direitos, mostra que estamos diante de um adoecimento não só biológico, mas sobretudo de um projeto de sociedade.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?