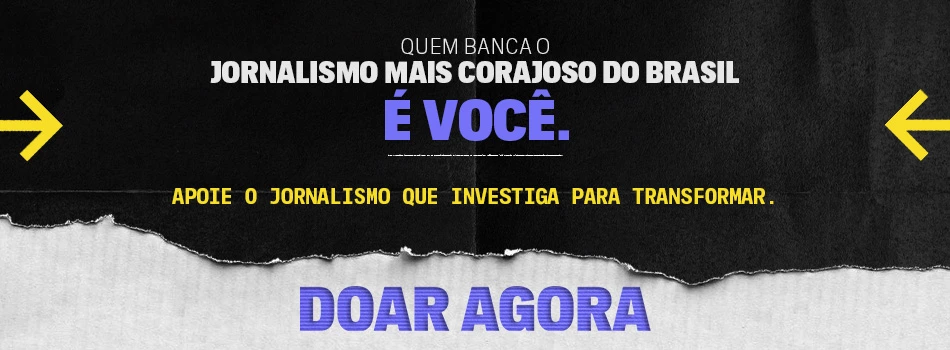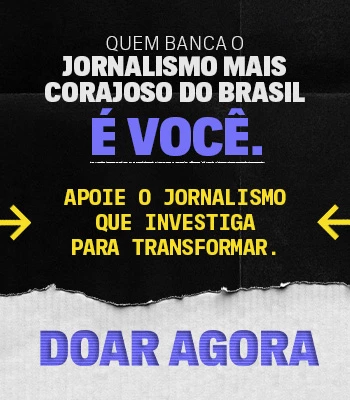Foto: Reprodução/Instagram; The Intercept Brasil
Protegida por uma peixeira, um copo de catuaba e com o amor revolto de 500 romances “Sabrina” no peito, lia alguns dos afagos endereçados por parte da direita gratiluz para mim na semana passada (“burra”, “inexperiente”, “nojeira”, etc.). Continuava a enfatizar a importância da universidade frequentemente desmerecida pelo mesmo grupo quando recebi outra voadora antiacadêmica na caixa dos peitos: com 13,3 milhões de seguidores no Twitter, era a vez de Felipe Neto abordar o tema. Naquela rede, ele escreveu:
https://twitter.com/felipeneto/status/1391240171773960200
Tomei um gole da catuaba, coloquei a peixeira entre os dentes, rememorei um trecho de “Minha paixão é você” (peguei muito esses romances na adolescência) e me fortaleci para voltar ao assunto: afinal, a acadêmica que sou hoje não foi forjada apenas por Pierre Bourdieu, Maria Eduarda da Mota Rocha, Luiz Beltrão ou Sueli Carneiro. Nela sobrevivem também paixões melosas da literatura popular, os quadrinhos de Elektra e da Turma da Mônica, as canções dos Titãs e de Agnaldo Timóteo. É um aporte teórico que prezo e está perfeitamente mesclado às minhas leituras acadêmicas, e é a partir dele que apresento aqui o meu “problema de pesquisa”: o tuíte de Felipe Neto e o termo “academicista” usado de forma generalizada – e injusta – para se referir à universidade. Não é somente Felipe que tem essa perspectiva redutora da academia: esse é um sentimento espraiado fortemente na sociedade, e as instituições de ensino superior, hoje fragilizadas com cortes enormes em seus orçamentos, contribuíram bastante para esse cenário.

Imagem: Reprodução/Adoro Romances
Sim, é verdade que a palavra “acadêmico” geralmente nos remete à imagem de um homem branco e muito sério, óculos, meia-idade, rodeado de livros e fechado em si mesmo, sempre usando termos e citações que pouco repercutem no chamado “público médio”. Ele é a epítome do “academicista”, aquele que se comunica com poucos e deseja fervorosamente permanecer assim, afinal essa é uma situação de demonstração de poder. Seus colegas devem preferencialmente publicar em revistas A1 (no ranking dos periódicos acadêmicos, são as mais prestigiadas) e suas conversas, mesmo as mais prosaicas, sempre terminam trazendo seus interesses de pesquisa: às vezes você só quer defender seu amor pelo feijão mulatinho em vez do tropeiro, mas aí o homem do currículo Lattes todo organizado já saca um “Raízes do Brasil” para mostrar como você está seriamente equivocada.
Conheço diversos assim, tropecei e ainda tropeço em alguns deles. Sobre isso, uma breve reminiscência:
Quando entrei em uma pós-graduação, um mestrado em Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, raramente me sentia convidada à fala. Eu não estava em um ambiente desconhecido: havia terminado ali, cinco anos antes, minha graduação em jornalismo. Mas algo que me dizia que eu não era “apropriada” ao lugar: não dominava os franceses e ingleses (nem os autores, nem as línguas) frequentemente trazidos e não tinha tanto tempo para me aprofundar nas leituras por conta do trabalho diário como repórter. Nunca tive bolsa de estudos nem me candidatei a uma, pois já era mãe e meu salário como jornalista cobria melhor os custos. Esse sentimento também passava por outras questões que eu percebia ainda opacamente: eu era uma das pouquíssimas pessoas pretas naquela pós-graduação. Não era um cenário novo: quando entrei no curso de jornalismo da UFPE, em 1993, era uma das três pessoas negras em uma turma com 40 pessoas. A política de cotas sociais ou raciais era assunto ainda incipiente no âmbito institucional, muito embora fosse uma questão há muito latente nos movimentos negros.
Vivi algo que veria, felizmente, se repetir em todo país alguns anos depois: fui a primeira pessoa da família a frequentar uma universidade. Essa entrada não é heróica, nem deveria: imputar a alguém a responsabilidade de ser sobre-humano para conseguir simplesmente estudar é uma das maiores perversidades que já alimentamos. O “passou por mérito” também esconde toda uma sorte de sofrimentos e adoecimentos, e, ainda que inconscientemente, achamos que pessoas mais pobres e frequentemente mais pretas podem sim se ferrar na vida se “realmente” desejam um diploma universitário ou pelo menos terminar o ensino médio. As histórias do tipo “a menina que conseguiu estudar no meio do lixo” ou “o adolescente que andava 8 quilômetros para ir até a escola” deviam, antes de tudo, nos fazer perguntar porque permitimos essas provações, não transformá-las em uma espécie de conto mágico.
O fato é que, depois de almoçar muita coxinha e andar pendurada em ônibus lotados saídos da periferia, eu havia adentrado uma universidade e agora fazia uma pós-graduação. Terminei o mestrado e, anos depois, me candidatei a um doutorado em Sociologia na mesma universidade. Passei. Em todos esses anos, encontrei muita gente boa caminhando por aqueles corredores – e muitos “academicistas” também. Não demorei a entender que parte do que acontecia ali era também performance, vaidade e até insegurança, algo que não está reservado apenas às universidades, mas que é comum em quase todos os espaços de nossas vidas, seja no âmbito educacional ou profissional. Nesses 10 anos de formação acadêmica, uma inflexão fundamental também acontecia no país: triplicamos a presença de estudantes negros, pobres e indígenas e aumentamos o número de pessoas pobres no ensino superior público. E é isso o que não podemos perder de vista, caro Felipe.
A excelente sessão Igualdades da revista piauí literalmente desenhou essa mudança, facilitando bastante o trabalho para aqueles que ainda insistem em ver universidades apenas como trampolim para a elite: em 1999, somente 15% dos estudantes universitários eram pardos, pretos ou indígenas. Em 2019, eram 46%. Até 1998, a cada 100 alunos de 18 a 24 anos nos cursos universitários, 75 vinham dos 20% mais abastados. Isso mudou: em 2019, esse número passou para 40 a cada 100 pessoas. As políticas de cotas são essenciais nessa transformação, assim como a ampliação das universidades públicas pelo interior do país e o programa de financiamento estudantil para o acesso de estudantes a universidades privadas (Fies), que saiu de 733 mil vagas financiadas em 2014 para apenas 93 mil em 2021. Foi exatamente esse programa, que precisa ser discutido e readequado sem perder seu propósito de vista, aquele atacado pelo ministro Paulo Guedes quando reclamou que “até filho de porteiro” estava na universidade.
Não se enganem: assim como a já clássica reclamação de que aeroporto “estava parecendo rodoviária”, a mudança de faces, classes, histórias de vida e conhecimentos nas universidades também provoca, ainda que de maneira inconfessa (o que não é o caso de Paulo Guedes) o horror de muitos que nunca precisaram realizar uma maratona por dia para chegar até um diploma universitário. E é preciso garantir não só a entrada – sem a necessidade de maratonas –, mas a permanência de quem vem de grupos vulneráveis e que quer estar no ensino superior.
Assim, cada vez que um influenciador com milhões de seguidores generaliza como “academicista” e diminui a importância da produção dessa nova universidade brasileira, cerca de 3 mil auxílios alimentação, 2 mil auxílios permanência e 500 bolsas Capes e CNPq são triturados em um liquidificador misturados a um livro de Olavo de Carvalho. Pior: contribui-se para gerar o sentimento de distanciamento e ressentimento de parte da população, que de certa maneira torce contra si mesma ao não mirar a universidade também como ferramenta de diminuição da desigualdade social.
Reduzir a universidade como “academicista” é tão injusto quanto reduzir youtubers a comunicadores superficiais que vivem à caça de likes.
Reitor da UFPE, o professor Alfredo Gomes diz que as instituições de ensino superior estão atentas a novos caminhos para se tornarem mais abertas. Segundo ele, diversas ações entre a universidade e a comunidade estão em curso atualmente: parcerias com movimentos sociais, criação de um núcleo de extensão que vai para cidades diversas (como Sertânia, no interior do estado), formação de agentes populares de saúde. “A universidade precisa fazer o esforço para revelar sua legitimidade como instituição pública próxima da sociedade. Ela nasceu há dez séculos, isolada, e durante muito tempo foi assim”, comenta ele, que também identifica o academicismo (“o apego à questão retórica, conceitual”) como algo que passa por uma superação a partir de dentro. “Tradicionalmente, a universidade brasileira foi pensada para a elite e seu processo seletivo foi marcado por esse elitismo também, não era para um público em geral. Com a política de cotas, isso muda”, comenta. Hoje, 50% das e dos estudantes da federal pernambucana são provenientes de cotas para as escolas públicas e para pretos e pardos, bem diferente daquele 1993 quando cheguei por lá. Agora, a UFPE se prepara para levar as cotas até o ensino da pós-graduação, algo extremamente bem-vindo não só por ampliar o espaço de grupos mais vulneráveis nas ciências, mas por possibilitar a formação de professores e professoras nestas instituições. Hoje, apenas 15,8% dos docentes das UF no Brasil são pretos e pardos – isso mesmo com a lei de cotas para concursos públicos federais a partir de 2014. Eu sou uma delas.
Em tempo: a UFPE já anunciou que a verba liberada pelo MEC para 2021, a exemplo do que ocorre em outras federais brasileiras, não cobre as despesas básicas como segurança e energia até o fim do ano. É o menor orçamento liberado pela pasta em uma década.
Marx e maquiagem
A generalização do “trono academicista” também foi injusta com uma série de acadêmicas e acadêmicos que estão justamente nas mesmas redes de Felipe Neto tentando ampliar o conteúdo discutido nas universidades para mais gente. No âmbito da política – e das esquerdas que Neto criticou – são vários exemplos: Thiago Torres, o Chavoso da USP; Sabrina Fernandes, do canal Tese Onze; Laura Sabino; Jones Manoel; Silvio Almeida; Janaisa Viscardi; Rita von Hunty, do Tempero Drag; Dimitra Vulcana, a Doutora Drag, são alguns deles.
Conversei com Dimitra sobre o assunto e ela, assim como Alfredo Gomes, também entende que tanto universidades quanto seus críticos precisam engatar uma nova marcha epistemológica e conceitual para ajustarem-se ao que somos agora. Formada em administração, com mestrado e doutorado em ciências da saúde e docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, a IFNMG, a youtuber vê com preocupação essa generalização negativa do espaço universitário.
“Acho que a gente tem que pensar em duas possibilidades sobre estas críticas. Uma é que, de fato, historicamente, a universidade ainda é sim distante das pessoas. Os conhecimentos nem sempre estão sendo compartilhados com a comunidade. Só que nem tudo é oito ou oitenta, e as dinâmicas das redes sociais fazem com que as coisas pareçam assim. A crítica ao academicismo é importante porque a gente tem que trazer a universidade mais perto das pessoas, mas ao mesmo tempo ela é uma chave perigosa porque pode ocultar muitos processos que não são aparentes. Nos últimos anos as políticas de ações afirmativas trouxeram muita gente para as universidades e eu acho que isso é louvável apesar de todos os problemas, como a manutenção dessas pessoas no universo acadêmico.”
Um problema brabo nessa detonação apontado pela Doutora Drag é que a crítica ao academicismo cai muitas vezes no anti-cientificismo – e essa, sabemos, é uma chave perigosa. Para desmontar essa bomba, um influenciador como Felipe Neto é importante. “O alcance que Felipe tem não pode ser negado, nem seu apoio. Como todo mundo, ele pode cometer erros. Acho que a chave que ele tem desse universo é distorcida até mesmo pelos próprios processos de vivência dele. O ideal é politizar o debate e trazer o que está por trás disso, reforçar o papel de educadores populares e demonstrar a importância de todas as ciências. Acredito que com dois dedos de prosa ele entende o perigo desse comentário.”
* Para não dizer que não falei de Mises: nas redes também é possível encontrar canais que popularizam pensadores liberais como Raymond Aron, José Guilherme Merquior e Stuart Mill. Um deles é feito pela equipe do Livres. Há ainda nessa linha o Fronteiras do Pensamento.
* Recentemente, escrevi a respeito dos absurdos que já presenciei na universidade pública.
FAÇA PARTE
O Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?
DOE AGORA