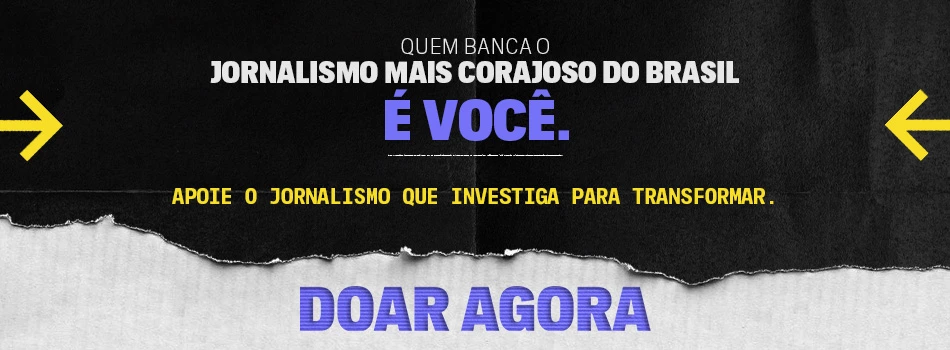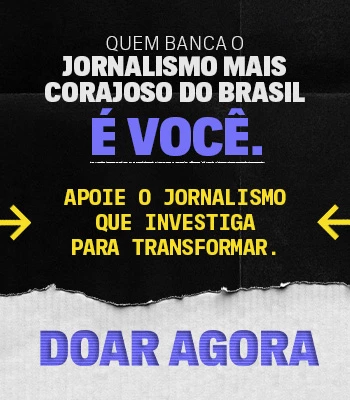O pavilhão de 480 metros quadrados construído para sediar a feira da agricultura familiar de Castelo dos Sonhos está às moscas há quase 15 anos. Inaugurada em 2008, a feira só funcionou por sete meses por falta de açaí, mel, frutas e verduras. O barracão segue desativado, em contraste com o ritmo frenético de trabalho das madeireiras, o vai e vem dos caminhões que levam o gado e a soja pela BR-163 e o zum-zum-zum constante das motosserras operadas por trabalhadores desconfiados, que surgem do meio da mata quando transitamos pelas estradas de chão às margens da rodovia federal.
“Falta produto, porque ninguém mais quer plantar. Tem alguns ex-agricultores e extrativistas batendo prancha em serraria, outros estão no garimpo ou trabalhando nas derrubadas”, conta ao Intercept um morador que prefere não se identificar. Afinal, qualquer um que se opõe aos grandes fazendeiros corre perigo por aqui, onde o dito popular ensina pela ameaça: “se você não quer vender a terra, tudo bem. A viúva vende mais barato”.
Foi neste pedaço de chão no sudoeste do Pará, esparramado ao longo da BR-163, entre os distritos de Castelo dos Sonhos e Vila Isol, onde aconteceu o maior desmatamento contínuo já registrado na Amazônia. O ranking é da plataforma MapBiomas Alerta, que, desde 2019, reúne e valida os alertas de destruição da floresta. O programa concentra diversos sistemas de monitoramento, como o Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o Sistema de Alerta de Desmatamento, do Imazon.
O desmatamento identificado pelos satélites tem 6.469 hectares — o equivalente a 6,5 mil campos de futebol — e a destruição aconteceu em cerca de quatro meses de 2020 (de fevereiro a maio), ao custo de pelo menos R$ 13 milhões. As terras, hoje nas mãos dos grileiros, estão em uma área pertencente à União. O que antes era público, de todos os brasileiros, agora engorda o patrimônio de um trio que pode lucrar mais de R$ 100 milhões com a venda da área.
Apesar desse território pertencer a Altamira, a área urbana mais próxima é a de Novo Progresso, a quarta mais bolsonarista de todo o Brasil no primeiro turno da eleição presidencial. Com o município, os distritos de Castelo dos Sonhos e Vila Isol (conhecido como km 1.000) partilham uma mesma elite econômica especializada no garimpo, na conversão da floresta em madeira, boi e, mais recentemente, na monocultura da soja.
“A soja chegou como um câncer, um vício. Não tem mais como sair dela”, contou Marcelo Reis, chefe do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará.

Localização de Castelo dos Sonhos e Novo Progresso, além da área desmatada.
O perfil econômico se reflete no resumido rol de estabelecimentos comerciais instalados ao longo deste trecho da BR-163, que, além de inúmeras lojas de compra e venda de ouro, inclui empresas de produtos agropecuários, borracharias e oficinas para o conserto de tratores e retroescavadeiras, máquinas fundamentais para o trabalho no garimpo e nas derrubadas.
O ponto de partida de todas essas atividades é o mesmo: a apropriação de terras públicas. “A grilagem atua para colocar mais terra no mercado. O que vai ser feito com essa terra depende do ciclo econômico vigente”, explicou José Heder Benatti, professor titular do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará e ex-presidente do Instituto de Terras do Pará.
Nem mesmo duas forças-tarefas federais contra alguns dos maiores desmatadores da Amazônia — as operações Castanheira, em 2014, que mirou o grupo comandado por Ezequiel Antônio Castanha, e Rios Voadores, em 2016, que tentou desarticular a quadrilha de Antônio José Junqueira Vilela Filho — conseguiram intimidar os invasores de terras públicas no sudoeste do Pará.
Pelo contrário, em 2019, a região foi palco do “Dia do Fogo”, quando um grupo de fazendeiros coordenou centenas de incêndios criminosos que tiveram ampla repercussão internacional. Em 2020, o Greenpeace identificaria um “esquema novo de desmatamento e negociações de terras” na região, cujo principal sintoma é justamente a ocorrência “em curto intervalo de tempo”.



Fotos: Bruno Kelly
A responsabilidade por esse dano ambiental — que transformou em fumaça cerca de 3,5 milhões de árvores e uma biodiversidade de mais de 200 espécies por hectare — recai sobre três homens, segundo o Ibama e a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, a Semas.
O primeiro é Jeferson de Andrade Rodrigues, multado em R$ 15,4 milhões pelo Ibama e também pela Semas (ainda sem valor definido) por sua participação no desmatamento. Natural do Paraná, Rodrigues tem 45 anos e já foi funcionário de duas agropecuárias em Castelo dos Sonhos.
Atualmente, trabalha com compra de gado, como mostra sua descrição de perfil no Whatsapp e os diversos registros de embarque de animais publicados em sua página pessoal no Facebook. Além de sua fatia de terra no maior desmatamento da Amazônia, Jeferson também se diz dono de outras quatro áreas que, na verdade, pertencem à União. Duas delas foram desmatadas em 2021 e estão sendo divididas em lotes, procedimento que é praxe no manual do grileiro na busca pela regularização do imóvel junto ao Incra.
O segundo apontado é o pecuarista Delmir José Alba, de 56 anos. Um homem magro, alto, de cavanhaque, cuja aparência simples (bermuda, camiseta e boné) contrasta com o patrimônio, dinheiro e prestígio que sua família detém na região. Recentemente, patrocinou o mais importante rodeio de Castelo dos Sonhos, ao lado de outro poderoso fazendeiro — Manoel Alexandre Trevisan, o Maneca, acusado de envolvimento no assassinato de Brasília, uma liderança popular, há exatos 20 anos.
Natural de Santa Catarina, Nego Alba (como o pecuarista é conhecido) veio ao Pará na esteira de um tio e um irmão que estão entre os primeiros migrantes a se estabelecerem na região. Pelo menos parte de seu trajeto até Castelo dos Sonhos pode ser reconstituído a partir das multas ambientais que acumulou pelo caminho.
Em 1995, ele tomou a primeira multa ambiental em Conceição do Araguaia, na fronteira do Pará com o Tocantins. No ano seguinte, a queima de vegetação sem autorização do Ibama lhe renderia um auto de infração duzentos quilômetros ao norte, no município paraense de Xinguara. A partir de 1997, todas as multas seriam lavradas na região da BR-163, entre Novo Progresso e Altamira, onde Nego Alba, enfim, se estabeleceu. Atualmente, sua ficha junto ao Ibama totaliza 10 penalidades — por desmatamento e queimada ilegal, comércio ilegal de madeira e descumprimento de embargo, entre outros crimes — que somam R$ 11 milhões (valores atualizados pelo IPCA). Pouco mais de R$ 20 mil (0,18% do valor total) constam como quitados no sistema do órgão federal.
‘Se você não quer vender a terra, tudo bem. A viúva vende mais barato’.
Tanto Rodrigues quanto Delmir assumiram a responsabilidade pelo maior desmatamento contínuo em depoimento à Polícia Civil, prestado em junho de 2020.
Augustinho Alba, pecuarista e irmão de Delmir, é a terceira pessoa responsabilizada pelo desmatamento que, em 2020, lhe rendeu uma multa de R$ 22 milhões. A cifra milionária não o intimidou. No ano seguinte, seria autuado em mais R$ 31,3 milhões por seguir com o desmatamento e impedir a regeneração da floresta.
Em nota, a defesa do pecuarista disse que “não há qualquer correlação entre a área de propriedade do Sr. Augustinho Alba e a [área] desmatada”. Também afirmou que o desmatamento ocorreu na propriedade de seu irmão Delmir, (com quem afirma ter rompido uma sociedade) e lhe foi equivocadamente atribuído pelo Ibama, após um erro na checagem do monitoramento via satélite.
“Em geral, cada região tem uma elite local que tem uma relação mais próxima com atividades de grilagem e desmatamento”, explicou a procuradora Ana Carolina Haliuc Bragança, que foi coordenadora da Força-Tarefa Amazônia, extinta no ano passado, do Ministério Público Federal, o MPF. “Isso dificulta as investigações, pois o mapeamento desses grupos depende de um conhecimento muito aprofundado das redes locais. Sem falar que eles operam totalmente fora do sistema, fazendo pagamentos com dinheiro vivo, por exemplo”.

Foto: Bruno Kelly para o Intercept Brasil
Rodadas de queimas
A maior derrubada da Amazônia aconteceu nos fundos das propriedades de Augustinho Alba (Fazenda Santa Tereza) e de seu filho, Gustavo de Jesus Alba (fazenda Bom Jesus). É o que mostra a reconstituição feita pelo Intercept a partir de imagens de satélites e análises do Center for Climate Crime Analysis, o CCCA, uma ONG que atua para responsabilizar judicialmente empresas que colaboram para o aquecimento global, e da Earthrise Media, organização que emprega a tecnologia em prol da conservação ambiental.
Graças às imagens de satélite, foi possível reconstituir o passo a passo do desmatamento, desde os primeiros sinais de exploração madeireira até o plantio da pastagem para o gado. A história começa há aproximadamente duas décadas, com a abertura de um sinuoso caminho rumo à floresta, em busca da madeira de maior valor comercial.

Desmatamento às margens da BR-163 com grandes propriedades cercadas. Mapa: Júlia Coelho/The Intercept Brasil | Imagem: ESA Copernicus/Sentinel-2/Earthrise
Trata-se de uma tradicional estrada madeireira, como explicou Heron Martins, coordenador do laboratório de análises geoespaciais do CCCA. “Com o dinheiro da venda dessa madeira, o sujeito vai financiar a própria derrubada, que exige o aluguel de máquinas e a contratação de mão-de-obra, a compra das sementes de capim e das primeiras cabeças de gado”.
Após anos de exploração madeireira, em dezembro de 2019, estradas mais amplas são abertas para que haja a divisão da área em grandes lotes. Apesar da forte presença de nuvens nos meses subsequentes, o que atrapalha a visualização pelas imagens de satélite, em fevereiro de 2020 é possível perceber os primeiros sinais da derrubada massiva da floresta — etapa que seria concluída em apenas quatro meses.

Estrada construída derrubada de madeira no interior da floresta. Mapa: Júlia Coelho/The Intercept Brasil | Imagem: ESA Copernicus/Sentinel-2/Earthrise
A equipe da Semas chegou ao local pouco tempo depois, em junho de 2020, quando se deparou com inúmeras árvores derrubadas (entre elas, espécies protegidas, como a castanheira) e outras semi-decapitadas, com cortes profundos que avançavam por até 70% do diâmetro do tronco, prontas para tombarem com a força do vento ou pela queda de outra árvore por cima delas. “Tem-se a percepção de ser uma técnica usada para retardar os alertas de desmatamento capturados pelos sensores remotos, já que após feito esse tipo de corte, as árvores vão caindo aos poucos, demorando semanas para tombarem”, observaram os fiscais.
Os servidores guardavam a certeza de que o próximo passo dos grileiros seria atear fogo nos destroços da vegetação. Por isso, os fiscais da Semas recomendaram que os órgãos públicos continuassem monitorando a área. Apesar de previsível, o desfecho não foi evitado: três meses depois, o fogo seria efetivamente usado para finalizar o processo de “limpeza” e facilitar o crescimento da pastagem.
“Esse caso é bem típico do processo de derrubada da floresta que ocorre desde os anos 1970 na Amazônia”, afirma Martins.
O acompanhamento das imagens de satélite mostra que o processo de destruição permanece em curso. No início de setembro, quando estávamos terminando de escrever a primeira reportagem desta série, imagens de satélite flagraram mais uma rodada de queimadas na área — provavelmente, para eliminar o que ainda restava de vegetação nativa.
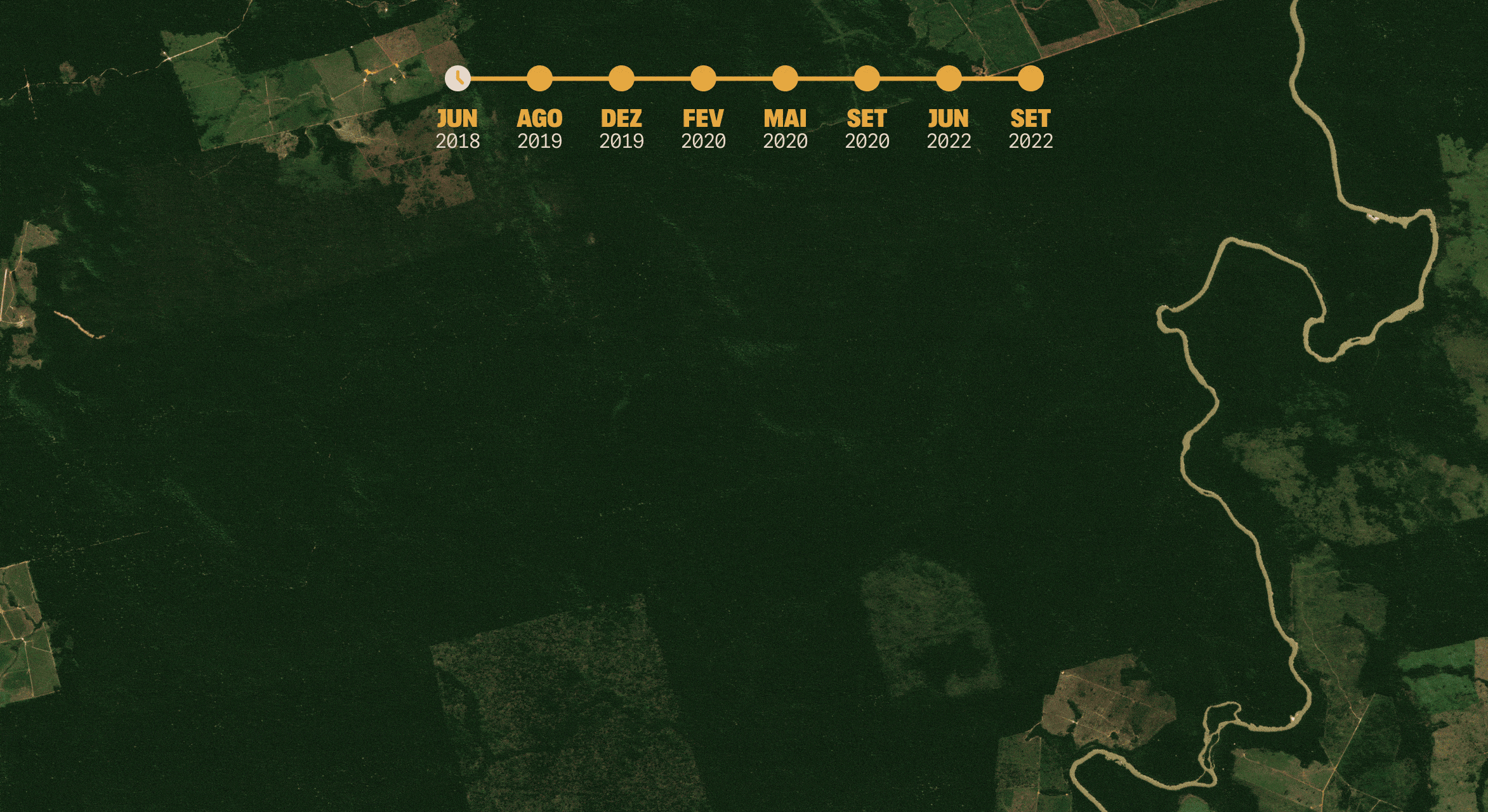
Gif mostra avanço do desmatamento em área da Amazônia. Gif: Júlia Coelho/The Intercept Brasil | Imagem: ESA Copernicus/Sentinel-2/Earthrise
Professor da UFPA e doutor em geografia humana pela Universidade de São Paulo, Maurício Torres explica que a grilagem de terras se dá a partir de dois processos distintos. O primeiro acontece no chão e consiste na derrubada da floresta: “Sem desmatamento, não existe grilagem, porque esse é o principal instrumento de controle territorial. É isso que o cara vai usar lá na frente para mostrar que a área é ‘produtiva’. Ou seja, o que um órgão do governo entende como crime ambiental, os programas de ‘regularização fundiária’ entendem como prova de ocupação”, explica.
Enquanto os peões trabalhavam duro na primeira etapa da grilagem, Delmir Alba e Jeferson Rodrigues agilizavam a etapa burocrática da tomada das terras públicas. E nenhum papel é tão fácil de ser obtido quanto o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, documento autodeclaratório criado em 2012 para reunir as informações ambientais das propriedades rurais, mas que acabou subvertido em um instrumento de facilitação da grilagem de terras.
Em janeiro de 2020, Rodrigues criou um CAR para sua parcela de terras apropriadas da União, localizada às margens do Rio Curuá e batizada de Fazenda Vale do Curuá, com 2.420 hectares. O Intercept entrou em contato com ele, que confirmou possuir uma fazenda na área desmatada. Sem dar mais explicações, disse que já prestou esclarecimentos à justiça.
Em março do ano seguinte, a parcela restante da área (5.803 hectares, quase 6 mil campos de futebol) passou a constar no sistema do CAR como a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em nome de Delmir Alba. O Intercept tentou contato com Alba, por meio de seu perfil pessoal no Facebook e também pela conta de sua esposa, mas não obteve resposta. Também foi feito contato com dois advogados que já haviam defendido o pecuarista, mas ambos disseram que deixaram de representá-lo.
Estivemos na região em agosto de 2022, mas não conseguimos acessar nenhuma das fazendas. Porteiras impediam a entrada, deixando claro que, agora, essa área tem dono.

Foto: Bruno Kelly para o Intercept Brasil
‘Não é qualquer um que tem esse dinheiro’
Existem dois métodos principais de derrubada nesta região do Pará. Cada um atende a uma especificidade de preço e, sobretudo, ao uso que se pretende dar à área desmatada.
O primeiro é o “quebradão”, desenvolvido pelo homem que ficou conhecido como o maior desmatador da Amazônia, Ezequiel Antônio Castanha. É quando se usa motosserras para cortar apenas as árvores maiores. À medida que essas vão tombando, “amassam” a vegetação mais baixa. O processo deixa para trás tamanha tranqueira de galhos, troncos caídos e cipós, que são necessárias duas levas de fogo para que a área fique completamente “limpa” e coberta de capim.
O custo deste tipo de derrubada gira em torno de R$ 2 mil por hectare, incluindo mão de obra, maquinário e combustível. “É o método mais barato e costuma ser utilizado por quem faz o desmatamento especulativo e quer gastar o mínimo, porque o objetivo não é produzir, mas sim vender a terra”, explicou uma fonte ouvida sob anonimato pela reportagem.
Mesmo que tenham escolhido apenas esse método, mais econômico, Rodrigues e os irmãos Alba teriam gasto, em média, R$ 13 milhões para desmatar os quase 6.500 hectares flagrados pelos satélites. Mas o uso de tratores de esteira (descrito pela equipe da Semas) e o perfil dos desmatadores (criadores de gado) indicam que o quebradão foi combinado com outro formato, que usa máquinas pesadas e por isso demanda um investimento de duas a três vezes maior: a hora do trator custa em torno de R$ 500, o que equivale a uma diária inteira de um operador de motosserra.
‘Uma derrubada tão grande demonstra que há pessoas com muito poder por trás desse desmatamento’.
Nesse modelo, as máquinas vão derrubando a mata mais baixa, enquanto logo atrás vem alguém plantando as sementes de capim. Além de exigir apenas uma queima para ficar pronto, esse processo tem mais chance de passar despercebido pelos satélites de monitoramento, já que as árvores maiores ficam de pé e acabam escondendo a derrubada que acontece ao nível do chão. Por garantir mais rapidamente um pasto de melhor qualidade, esse costuma ser o método escolhido por quem não quer apenas especular, mas também produzir na terra.
“Uma derrubada tão grande em um espaço tão curto de tempo demonstra que há pessoas com muito poder econômico por trás desse desmatamento”, afirmou Martins. “Não é qualquer um que tem esse dinheiro”, acrescenta Maurício Torres.
O investimento, no entanto, deverá ser rapidamente compensado, seja pela produção agropecuária, seja pela venda da área a terceiros. “Se você invadir um apartamento e morar lá 10 anos sem pagar nada, já vai estar economizando para caramba, certo? Com a grilagem é a mesma coisa”, compara Paulo Barreto, pesquisador sênior do Imazon.
O terreno desmatado pelo trio tem a característica mais cobiçada da região: é plano, o que aumenta muito o seu valor de mercado. “Isso significa que tem aptidão para soja”, explicou Maurício Torres.
Segundo informações colhidas junto a um vendedor de terras da região, o preço do hectare já desmatado nesta região do Pará pode variar de R$ 10 mil a R$ 35 mil, em média. No caso da área desmatada pelos Alba e por Rodrigues (plana e próxima à BR 163), o hectare dificilmente sairia por menos de R$ 20 mil, o que significa um total de R$ 130 milhões pelos 6,5 mil hectares — mais do que o dobro do orçamento do Ibama para prevenção e combate a incêndios em 2022.

Foto: Bruno Kelly para o Intercept Brasil
Um reino no Castelo dos Sonhos
O céu vai ficando mais escuro à medida que subimos a BR-163 em direção a Castelo dos Sonhos, a ponto de atrapalhar a visibilidade dos motoristas e irritar a garganta dos viajantes. Estamos no início de agosto, e a quantidade de fumaça já sinaliza que este será o pior agosto desde 2010 em relação ao número de queimadas na Amazônia.
Castelo dos Sonhos tomou o nome emprestado de uma música do cancioneiro brega, do compositor Walter Basso, que cantava “No meu castelo de sonhos você é a rainha…”.
A canção era bastante popular entre os garimpeiros, primeiros ocupantes da região nos anos 1970. Mas, para a maioria dos habitantes, a vida não é exatamente um conto de fadas nesta área marcada por conflitos de terra, onde os grandes se habituaram a esmagar os menores. “Muita gente aqui perdeu as terras e a vida junto”, contou um morador que preferiu não se identificar.
Para uma pequena elite, no entanto, a decisão de tentar a sorte no Pará resultou em um invejável império. Enquanto Augustinho e Delmir cuidavam dos negócios no Pará, o terceiro Alba, Ivanor, acompanhava tudo à distância, em Santa Catarina, onde é médico cirurgião. Juntos, os três irmãos construíram um patrimônio de mais 11 mil hectares — o equivalente a quatro arquipélagos de Fernando de Noronha — e prosperaram com a criação de gado e o cultivo de soja.
O real tamanho do patrimônio, no entanto, é desconhecido, já que na região é usual registrar propriedades em nome de terceiros. A Fazenda Santa Tereza, por exemplo, não está registrada em nome de Augustinho no sistema do CAR, e sim em nome de sua esposa, Julia Rosa de Jesus. Segundo a defesa do pecuarista, isso acontece porque a área foi desmembrada, e o processo ainda não foi concluído.

Irmãos Alba construíram um invejável império que inclui áreas de soja e de criação de gado.
Foto: Bruno Kelly para o Intercept Brasil
Há alguns anos, divergências na condução dos negócios levaram à divisão do reino dos Alba. A área de Augustinho e de Delmir ficou de um lado da BR — expandida à força do desmatamento —, enquanto a de Ivanor ficou do outro lado da rodovia.
Augustinho, Delmir e a esposa deste último, Diene Montagni, forneceram gado para seis frigoríficos, que exportam para destinos como Hong Kong, Congo, Tailândia e Estados Unidos. As informações constam nas guias de transporte animal (GTAs) emitidas por eles entre 2018 e 2021, obtidas pelo Intercept.
O principal cliente dos irmãos Alba é a empresa Vale Grande, pertencente ao grupo Frialto. Nego Alba já trabalhou para o frigorífico, fazendo a ponte entre o abatedouro e os produtores de gado da região. Em 2013, a empresa foi processada pelo MPF por comprar 5.370 cabeças de gado de áreas embargadas por desmatamento ilegal, e 183 vindas de propriedades da lista suja de trabalho análogo à escravidão.
De acordo com dados da empresa Panjiva, entre janeiro de 2019 e julho de 2022, as unidades da Vale Grande em Mato Grosso e Rondônia exportaram 2,2 toneladas de carne, das quais mais de 50% foram enviadas para os Estados Unidos.
O segundo maior cliente dos Alba é o frigorífico Redentor, que em 2018 comprou 385 animais de Augustinho Alba. A empresa está em recuperação judicial e não assinou o TAC da Carne com o MPF, acordo no qual os frigoríficos que operam na Amazônia se comprometem a não comprar gado de áreas desmatadas ilegalmente, tampouco com mão de obra escrava. Mesmo assim, o abatedouro foi recentemente autorizado a voltar a exportar para China. Em 2019, o Redentor vendeu 108 mil quilos de carne para o mercado asiático.
Em nota, o Redentor Foods confirmou que abateu 385 animais da Fazenda Santa Tereza, de Augustinho Alba e que, no momento da compra, a propriedade cumpria todas as exigências legais. Já o grupo Frialto, dono do frigorífico Vale Grande, informou que assinou o TAC da Carne após ser processado pelo MPF e que as propriedades que não cumprirem os requisitos do acordo serão bloqueadas. A íntegra das respostas dos dois frigoríficos pode ser lida aqui.

Foto: Bruno Kelly para o Intercept Brasil
Alvo número 1
O caso de Castelo dos Sonhos é ilustrativo do que acontece no restante da Amazônia não só pelo roteiro — tirar a madeira, derrubar a floresta, botar fogo e plantar capim — mas, sobretudo, pelo cenário. O maior desmatamento de uma área contínua do Brasil aconteceu em uma terra pública não destinada (ou gleba), como são chamadas as parcelas pertencentes à União ou aos estados que não foram convertidas em unidades de conservação, terras indígenas ou propriedades particulares.
Se por lei esses espaços deveriam ser protegidos e destinados às comunidades locais, à concessão florestal ou à criação de florestas nacionais, na prática esse território se tornou o alvo número um dos grileiros: 40% das derrubadas, entre 2013 e 2020, aconteceram nas áreas públicas não-destinadas, de acordo com o Imazon. E, de 2019 a 2021, o desmatamento nessas terras aumentou 78%, comparado ao triênio anterior. Ainda segundo o instituto, “esse aumento de desmatamento é uma evidência da pressão para que tais áreas sejam privatizadas”.
“O grileiro vai atrás de uma terra ‘grilável’. Ao contrário das terras não-destinadas, uma unidade de conservação ou uma terra indígena não são griláveis, porque já são destinadas e, teoricamente, não podem mais ser destacadas do patrimônio público para serem incorporadas ao patrimônio privado do grileiro”, esclareceu Maurício Torres.
O Ibama, órgão responsável por proteger essas áreas, não respondeu aos questionamentos do Intercept.
Segundo levantamento do Imazon, existem 143,6 milhões de hectares de áreas públicas não-destinadas na Amazônia Legal — uma área maior que o território de todo o Peru e que representa 30% da região amazônica. Além das áreas de florestas federais e estaduais formalmente reconhecidas pelo Serviço Florestal Brasileiro, SFB – responsável pelo Cadastro Nacional de Florestas Públicas –, o número do Imazon inclui um vasto território sobre o qual simplesmente não há nenhuma informação a respeito de destinação: não foram reconhecidas pelo SFB como florestas não-destinadas, mas também não constam nas bases de dados públicos como território indígena ou quilombola, unidade de conservação, assentamento ou propriedade privada.
‘Floresta com gente reage, floresta sem gente não reage’.
Em nota, o SFB informou que o cadastramento das áreas não-destinadas depende de informações prestadas por diversos órgãos públicos e que é responsável apenas pela destinação de áreas para as concessões florestais.
A Funai e o ICMBio, responsáveis pela destinação de áreas para terras indígenas e unidades de conservação, respectivamente, não responderam ao Intercept. Já o Incra, à frente da gestão dos assentamentos da reforma agrária e das terras não-destinadas — como é o caso da área desmatada pelos Alba e por Rodrigues — não esclareceu quais suas responsabilidades sobre a área, destacando apenas que a proteção ambiental compete ao Ibama. A íntegra da troca de emails entre o Incra e o Intercept pode ser lida aqui.
O Pará é o estado onde a pressão sobre as áreas não-destinadas é maior. Segundo um relatório do Greenpeace, o “conhecimento da estrutura fundiária para identificar terras públicas sem destinação” e então invadi-las é uma das principais estratégias dos grupos organizados que atuam na região. Segundo a organização, 62% das áreas de florestas públicas não-destinadas do entorno da BR-163 estão registradas no CAR, e o desmatamento nesse território aumentou 205% entre agosto 2019 e julho 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Por isso, a destinação dessas áreas — especialmente para terras indígenas — é apontada por especialistas como uma das maneiras mais efetivas de evitar a grilagem, e, por consequência, o desmatamento. “Nessa briga da especulação, é melhor floresta com gente do que floresta sem gente. Floresta com gente reage, floresta sem gente não reage”, afirmou José Heder Benatti.
No sudoeste do Pará, o caminho foi o contrário. Em 2003, uma portaria do governo federal fez o povo Kayapó perder mais de 300 mil hectares da Terra Indígena Baú, após mais de uma década de conflitos com posseiros, madeireiros, mineradores e políticos da região.

Mapa mostrando parte desafetada da TI Baú, parte que restou e localização do desmatamento de Jeferson e Delmir.
Nos anos seguintes à redução do território, até 2008, o Imazon constatou que o desmatamento aumentou a uma taxa média de 129% ao ano, justamente nessa parcela que foi retirada dos indígenas. Entre os grileiros que se beneficiaram da desafetação estão Rodrigues e Delmir.
Para Maurício Torres, o precedente da TI Baú encorajou os grileiros e estimulou uma corrida que hoje já não é apenas pelas terras não-destinadas, mas também pelas áreas protegidas, em especial a Floresta Nacional do Jamanxim — a segunda unidade de conservação mais desmatada do país segundo o Inpe. “A redução da terra indígena Baú foi obtida por meio de invasões e de ameaças a indígenas, dizendo que ia haver um massacre caso eles não fossem atendidos. Esse precedente deixou bem claro que, com violência, terror e desmatamento, se consegue tudo”.
Esta reportagem faz parte do projeto Ladrões de Floresta, que investiga a grilagem em terras públicas da Amazônia e conta com o apoio da Rainforest Investigations Network, do Pulitzer Center.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?