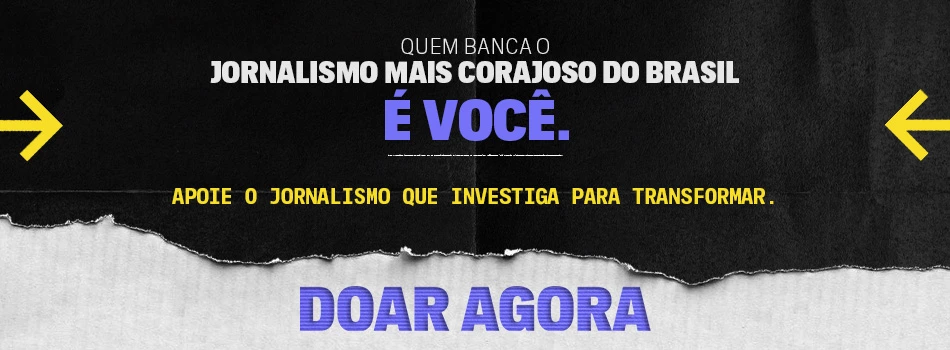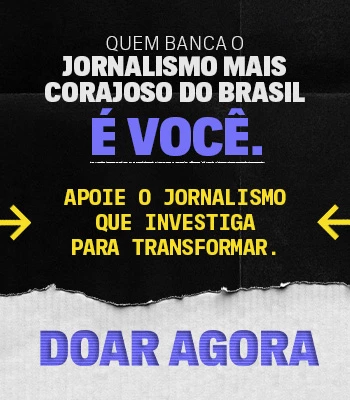Da Patagônia ao México, a América Latina vive uma fase sem precedentes. Em poucos dias, os governos dos cinco maiores países da região – Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile – estarão sob o comando de presidentes de esquerda, feito que lembra a chamada “onda rosa” do início do século. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe alívio para as vozes progressistas do continente. Mas os ecos da vizinhança mostram que, apesar das vitórias nas urnas, a esquerda não vive seus melhores dias.
No Peru, após ensaiar o fechamento do Parlamento, o presidente Pedro Castillo foi enfim derrubado pelo próprio Congresso, que já tentava destituí-lo havia meses. É o quinto mandatário do país que deixa o cargo desde 2018. E pela primeira vez uma mulher, a vice Dina Boluarte, assume o posto mais alto da nação, embora venha sendo pressionada a adiantar as eleições para o fim de 2023.
A Argentina luta contra uma eterna crise econômica e uma das maiores inflações da região, atrás apenas da Venezuela. Além disso, o presidente Alberto Fernández e a vice Cristina Kirchner vivem em cabo de guerra. Kirchner, inclusive, foi condenada recentemente em primeira instância a seis anos de prisão por casos de superfaturamento de obras – e pode ficar inelegível se a decisão for confirmada nas cortes superiores. A ex-presidente também foi alvo de uma tentativa de homicídio à mão armada em setembro.
No Chile, o presidente Gabriel Boric passou de astro da nova esquerda latina a um mandatário inexperiente, que não consegue resolver o conflito armado em território mapuche, ou aprovar as reformas prometidas no Congresso. Depois da rejeição no plebiscito da nova Constituição chilena, também uma reprovação do governo, Boric se viu obrigado a reformular seu gabinete ministerial para tentar acalmar os ânimos da população.
É nesse contexto de contradições latino-americanas, marcadas por constantes vitórias e crises, que o Intercept conversou com o historiador Fabio Luis Barbosa dos Santos, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Santos é autor dos livros “Uma história da onda progressista sul-americana” e “O médico e o monstro: uma leitura do progressismo latino-americano e seus opostos”. Confira a entrevista completa em parceria com o Giro Latino.

“Depois de experimentar o bolsonarismo, a gente consegue entender o que a Colômbia vive desde o início do século 21”, afirmou o historiador Fabio Luis Barbosa dos Santos.
Foto: Divulgação.
Intercept – Com as recentes vitórias da esquerda na região, tem se falado numa nova “onda rosa” latino-americana. É realmente um fenômeno progressista ou apenas uma resposta de oposição?
Fabio Luis Barbosa dos Santos – Depende de cada caso. Os que mais chamam a atenção são os do México, Peru, Colômbia e Chile, justamente por serem países que não elegeram governos progressistas no começo do século 21. Tem um denominador comum com a onda rosa original: pode ser interpretada como uma vitória da esquerda, mas também foi uma alternativa para gerir as contradições sociais diante do esgotamento das forças políticas que governavam esses países. A onda progressista pode ser entendida como uma alternativa de gestão ao neoliberalismo.
Isso é mais evidente em países como Argentina, Bolívia ou Equador, onde a vitória veio após os levantes populares que derrubaram os governos da época. Mais recentemente, foram os casos chileno, colombiano e peruano: nos três países, houve rebeliões populares em plena pandemia. Esse é um dado que merece reflexão. As tensões sociais se aguçaram em todos os países. Mas, nos países onde o progressismo é mais forte, prevalece a espera pela próxima eleição.
Mas, no Peru, a vitória da esquerda já começou com problemas, não?
No caso peruano, não me parece adequado identificar o Pedro Castillo com o progressismo. O rosto progressista é a Verónika Mendoza, que já tinha disputado a eleição anterior [de 2016] e por muito pouco não chegou ao segundo turno. Do ponto de vista da forma política – não do conteúdo –, Pedro Castillo se assemelha mais ao Jair Bolsonaro: alguém que se apresenta como um outsider, que representa um Peru profundo. Ele colocava uma agenda de uma esquerda estatista enquanto cultivava valores morais conservadores.
Em relação ao contexto socioeconômico, o que há de diferente nos novos governos da região, principalmente aqueles onde a esquerda chegou ao poder pela primeira vez?
Do ponto de vista da história política, as eleições de Andrés Manuel López Obrador no México e de Gustavo Petro na Colômbia têm um significado extraordinário. Eram países governados sempre pela direita – que levou ao extremo a violência da autocracia burguesa da América Latina. A Colômbia vem de um conflito interno de mais de 50 anos. A política colombiana se dividiu em dois partidos: um da paz e outro da guerra, e a diferença fundamental não está no neoliberalismo ou na agenda econômica, mas sim nas formas de lidar com o conflito armado.
‘Castillo colocava uma agenda da esquerda estatista no Peru enquanto cultivava valores conservadores’.
Há setores da sociedade colombiana que fazem da guerra um meio de vida, um negócio, e impedem a paz sistematicamente. O país foi pioneiro em uma política do ódio com Álvaro Uribe [presidente de 2002 a 2010]. Mas o primeiro sucessor de Uribe, o Juan Manuel Santos [que governou de 2010 a 2018], rompeu com ele não pelas diferenças no plano econômico, mas porque Santos foi buscar a paz com as guerrilhas. Há também um setor da classe dominante que entende que a paz é mais favorável para os negócios do que a guerra.
Isso é um presságio do que pode acontecer no Brasil?
O futuro de um Brasil miliciano apontaria para isso. Quando o governo Santos promove um plebiscito pela paz e o “não” vence, o principal argumento é que o país seria governado pelo castro-chavismo. Depois de experimentar o bolsonarismo, a gente consegue entender o que a Colômbia vive desde o início do século 21. A Colômbia vive uma política do ódio, que é também uma política da mentira.
O que significam os conceitos de aceleração e contenção que você usa em suas pesquisas?
No meu último livro, “O médico e o monstro”, recorro aos oxímoros [contradições entre si] para ilustrar a dinâmica do progressismo. Por exemplo: uma política como a do Uribe ou do Bolsonaro olha para as fraturas sociais desses países e assume uma postura de aceleração da crise. Eles aceleram as dinâmicas neoliberais que corroem o tecido social e resultam numa sociabilidade autofágica, o princípio de todos contra todos.
A ideia da contenção significa que o propósito não é modificar as estruturas da sociedade, mas buscar melhorar a vida para os de baixo, sem mexer nessas estruturas. As políticas focalizadas, por mais importantes que sejam, não desafiam a racionalidade neoliberal, mas procuram conter os seus efeitos. Por isso é uma dinâmica contraditória.
Essas são as restrições de atuação da esquerda. Mas quais são os limites para a direita no governo?
Um dos limites são os Estados Unidos. O outro é a própria dinâmica dos negócios. Para ilustrar o caso dos EUA, vou para Honduras. O país foi comandado pelo Partido Nacional, cuja principal figura era um homem do narcotráfico, o presidente Juan Orlando Hernández. Sob o governo dele, Honduras se constituiu como uma narcoditadura, uma máquina de produzir migrantes e drogas. É por isso que a candidatura da Xiomara Castro [de esquerda] teve simpatia dos Estados Unidos e de parte importante das elites hondurenhas. E o que aconteceu? O Juan Orlando Hernández foi preso e extraditado para os EUA pouco depois de deixar o cargo. Enquanto isso, Honduras pede ajuda da ONU para constituir comissões de investigação e cooperação internacional.
De certa forma, o bolsonarismo foi uma política da aceleração [da crise], e Lula representa uma política de contenção. Mas não se trata de um movimento pendular, ida e volta. O sentido da evolução da história permanece o mesmo. Segue em marcha a sociabilidade autofágica, o todos contra todos, o empreendedorismo de você mesmo, o caldo de cultura dessas políticas do ódio. Todos os problemas que a gente tinha há 20 anos estão agravados, e não é só por causa do período bolsonarista. Se a gente olhar para o meio ambiente, a economia, a violência urbana, a atividade miliciana, o encarceramento, não há dimensão em que o Brasil esteja melhor. A política lulista tem como forte a conciliação, mas o outro lado não está no jogo da conciliação, está no jogo da guerra.
Você fala de contradições. Em matéria de meio ambiente e transição energética, a gente vê muitos sinais trocados. Por que os governos progressistas têm tanta dificuldade nesses temas?
Há uma esquerda da velha guarda que precisa encarnar os processos sociais contemporâneos. A questão ambiental está nessa perspectiva. É uma temática considerada irrelevante – quando não [é vista como] um empecilho do ponto de vista mais ortodoxo –, mas essa é uma visão que precisa ser superada. O compromisso com essas formas econômicas extrativistas é o calcanhar de aquiles dos governos progressistas.
Talvez o caso mais interessante seja o equatoriano: na eleição do ano passado, o progressismo equatoriano fissurou por dentro. O ex-presidente Rafael Correa rompeu com quem foi seu vice, Lenín Moreno, que abraçou a direita e os EUA. Viraram inimigos. Essa implosão do progressismo abriu espaço para um terceiro nome: Yaku Pérez, representante dos movimentos indígenas pelo partido Pachakutik. Era um candidato com uma posição alternativa ao extrativismo, em defesa da água e dos direitos reprodutivos das mulheres. Mas o que fez o correísmo? Retrataram o Yaku Pérez como um cavalo de troia do imperialismo, com uma narrativa falsa que teve muita circulação internacional.
‘O progressismo não é só indiferente à política ambiental, como pode ser hostil’.
O progressismo, na forma como se constituiu em anos recentes, não só é indiferente a essa política [ambiental], mas também pode ser hostil. Muitos questionam por que o Yaku Pérez não apoiou o candidato do correísmo no segundo turno, mas ele foi preso diversas vezes nos governos de Correa, apanhou de chicote. É um ponto cego da política progressista.
Como podemos esperar a reação da extrema direita? As forças autoritárias estão se consolidando na região?
A história do médico e do monstro que uso no meu livro é uma metáfora do final do século 19. Um médico começa a fazer experiências em si mesmo com o objetivo de isolar seu “lado mau”. Nesse processo, cria um alterego, o Mr. Hyde, uma criatura que tem a peculiaridade de ser a maldade concentrada. Para voltar à forma do médico, ele bebe um preparado químico. Mas qual é o drama? Cada vez mais, ele precisa de doses maiores do preparado, que deixa de fazer efeito: o monstro se emancipa. Qual será a eficácia do remédio das políticas de contenção lulista no contexto que a gente vive? O monstro não é uma pessoa, mas um fenômeno social de uma parte da população que deseja políticas violentas.
É o que ocorre em El Salvador atualmente. O presidente Nayib Bukele decretou estado de sítio a pretexto de combater as maras [gangues], aprisionou de forma arbitrária quase 60 mil pessoas num país minúsculo e segue com uma aprovação na casa dos 90%. O drama do nosso tempo é que essas políticas que caracterizam regimes autoritários passaram a ser socialmente desejadas, e é isso que se forma no Brasil: Lula ganhou por uma fração muito pequena. Os antagonismos estão muito mais aflorados na sociedade do que há 20 anos, e o cobertor social é muito mais curto.

Chilenos vão às ruas para comemorar os três anos do ‘estallido social’, a série de protestos massivos que começou em 2019.
Foto: Jose Veas/Getty Images
No Chile, o anseio por mudança do estallido social já teve um revés com a rejeição da nova Constituição. O que explica isso?
A gente tem que pensar como a extraordinária revolução chilena quase foi vencida pelo lado oposto do que era pedido pelas ruas. Aí há vários elementos complexos, inclusive as contradições das pessoas que se manifestam. No Chile, o neoliberalismo é mais forte, mais internalizado. As pessoas que estavam contra os fundos de pensão não necessariamente queriam uma previdência pública solidária, mas apenas que o imposto compulsório deixasse de ser cobrado. As pessoas são contraditórias. Dizer que alguém votou no Bolsonaro porque é fascista ou chamar de revolucionário um manifestante chileno não captura toda essa complexidade.
‘O trilho do Chile já foi percorrido por Venezuela, Bolívia, Equador. É sinal de falta de imaginação política’.
Havia a ideia de que tudo mudaria com uma nova Constituição e um novo presidente. Não diminuo a importância do processo chileno, mas precisamos pensar além. Esse trilho já foi percorrido na história recente pela Venezuela, pela Bolívia, pelo Equador. É sintoma de uma falta de imaginação política do nosso tempo. Se questiono o alcance do progressismo, entendo que ele tem a sua importância social, mas é incapaz de modificar essa forma social. E é ela que produz fenômenos sociais como o bolsonarismo, o José Antonio Kast [candidato da extrema direita chilena]. A gente precisa criar outras formas sociais. Outra Constituição e outro presidente não resolvem. A dinâmica que produz os Bolsonaros também gera as rebeliões. Como a gente dá futuro à potência disruptiva de uma rebelião como a chilena? Esse é um dilema do nosso tempo.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?