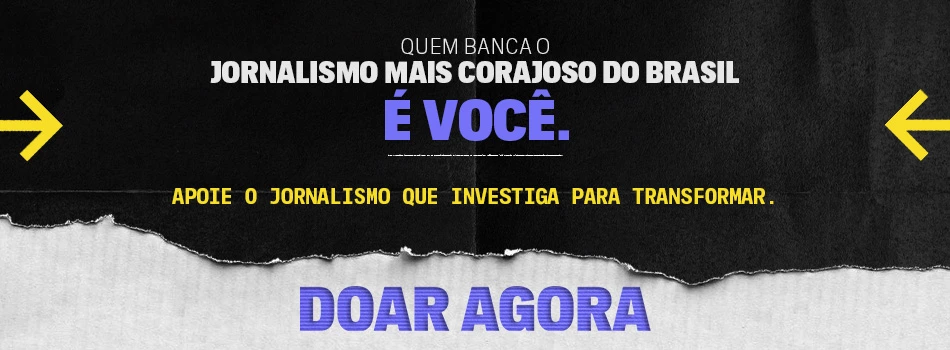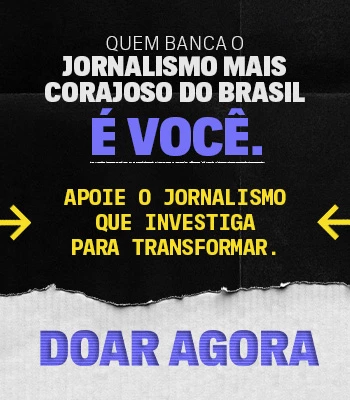O racismo se impôs no mundo como pauta desde maio de 2020, quando ocorreu o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos – e passou a ser assunto imprescindível também para as igrejas evangélicas. Aqui, se tornou um dilema tanto para as igrejas majoritariamente brancas, quanto para as periféricas, de maioria negra. Ser “conservador e antirracista” passou a ser uma bandeira fundamental, mas com um grande desafio: não permitir que movimentos sociais negros, como o Black Lives Matter ou a Coalizão Negra, penetrem as igrejas com suas agendas progressistas, ditas “anticristãs”.
Se, por um lado, ser antirracista não é um privilégio de movimentos de esquerda ou progressistas – e não deve ser mesmo –, por outro, reconhecer e valorizar a negritude não faz de pessoas negras imediatamente antirracistas.
Ver pessoas negras valorizando seus corpos, seus cabelos, seu lugar na sociedade, é fundamental e uma conquista poderosa num país tão racista quanto o Brasil. Lembremos que uma pesquisa do Ipec, divulgada semana passada, mostrou que 81% dos brasileiros acham que vivemos em um país racista, mas apenas 11% reconhecem ter práticas racistas e só 11% reconhecem que trabalham em instituições racistas, por exemplo.
A pesquisa não pergunta quantas pessoas evangélicas reconhecem que frequentam igrejas com práticas racistas. Mas, se perguntassem, o número provavelmente seria ainda menor. É realmente muito importante que, em muitas igrejas conservadoras, de classe média ou periféricas, a valorização da negritude esteja acontecendo e sendo fomentada. Mas isso, por si só, não torna essas igrejas e seus frequentadores antirracistas.
Primeiro, porque o antirracismo é sobretudo o reconhecimento político do enfrentamento das estruturas que funcionam a partir do racismo, assim como das diversas dimensões em que ele opera. Defender que pessoas negras podem valorizar sua negritude ao mesmo tempo que consideram apenas “crença teológica” associar religiões de matriz africana a entidades do mal – ou vê-las como inferiores ao cristianismo – interdita o agir antirracista. O racismo produziu a sujeição de todo um continente e tudo associado a ele (como a cultura e a religião) à superioridade do cristianismo de matriz eurocêntrica. Não existe antirracismo co-habitável com essa crença.
Em segundo lugar, o antirracismo é uma categoria posta de fora para dentro. Isso é: eu considero alguém antirracista a partir das práticas que eu vejo e identifico como antirracistas, e isso não é aleatório. É muito provável que aquele pastor negro pentecostal à frente de sua irgeja na favela, que tem orgulho de ser negro e de ter uma família negra, não fale sobre si mesmo como “antirracista”. E isso realmente não é necessário. Mas, na leitura empreendida pela “guerra cultural” conservadora, o antirracismo é posto como uma forma de fazer disputa de sentidos com o campo progressista. E, principalmente, com o movimento negro – sobretudo, porque esse movimento é diretamente associado às religiões de matriz africana.
Abordagem e sabotagem
Podemos ver e enquadrar esse movimento conservador não como algo inusitado do contexto brasileiro, mas sim como algo que se insere num contexto global, com paralelos muito especiais com os Estados Unidos. É um movimento duplo de abordagem e sabotagem.
No movimento de abordagem, o racismo se torna uma pauta imposta por si mesma. Como assim? A imagem de um policial branco, tranquilo com as mãos no bolso enquanto assassina um homem negro com o joelho, foi exibida diariamente e circulou internacionalmente. Ela era forte demais para ser ignorada. Então, a pauta racial se impôs. Houve o reconhecimento de que, sim, o racismo existe, é chocante e precisamos falar sobre isso.
No movimento de sabotagem, há uma estratégia, coordenada ou não, de usurpação do tema para que ele não circule nos termos que é reivindicado pelos movimentos negros e organizações antirracistas. Essa usurpação se manifesta desde a caça aos estudos e contribuições de ada Teoria Crítica da Raça nos Estados Unidos, até a criminalização dos ativistas do Black Lives Matter, que se tornam “inimigos da família” e dos “valores cristãos”.
Igrejas conservadoras buscam incessantemente apagar e neutralizar qualquer referência a James Cone. Ele identifica, na história de sofrimento do povo negro, o cativeiro no Egito. Também relaciona a crucificação de Jesus – feita com o apoio de muitos religiosos da época – com o linchamento de negros nos Estados Unidos no início do século 20. Cone fez o link, por exemplo, entre a cruz e as árvores em que muitos negros linchados eram depois pendurados após a morte.
LEIA TAMBÉM
- Igrejas conservadoras serão incubadoras da extrema direita
- Igreja Lagoinha: Por que você precisa conhecer a família Valadão
- Igrejas evangélicas radicalizaram extremistas no Capitólio – e no Brasil também
O mesmo acontece com qualquer teólogo ligado à Teologia Negra. As “autoridades” alçadas à condição de vozes qualificadas sobre o tema são os conhecidos pastores brancos. É o caso do presbiteriano Tim Keller e do batista John Piper, além do bispo anglicano N. T. Wright. Os três, “de repente”, num movimento de autocrítica (do tipo “perdão, escrevi tantos livros e preguei tantos sermões, mas nunca falei sobre isso”) ou de percepção da urgência do tema, refletiram e pregaram sobre isso.
Era mais seguro ouvir as vozes dos sábios pastores brancos do que confiar nas vozes sofridas de negros e negras que transformaram a própria vida em profecia permanente contra o racismo. Isso não desqualifica nem Keller, Piper ou Wright, pois todos eles, com a audiência que têm, dão enorme contribuição para expandir o alcance do tema. E fazem uma parte evangélica que ou ignoraria, ou torceria o nariz para a conversa, se questionar sobre o impacto do racismo e a indiferença de muitas igrejas quanto a isso.
No Brasil, abordagem e sabotagem seguiram o mesmo caminho. Igrejas que fecharam as portas para a temática racial entre seus jovens se viram obrigadas a lidar com a questão. Novamente, recorreram à “sabedoria racial” de Tim Keller para tratar do assunto. O livro de Keller, “Racismo e justiça à luz da Bíblia”, foi lançado aqui e se tornou uma referência para conservadores que se recusavam a ouvir falar do tema de uma fonte que não fosse de viés teológico conservador.
Um artigo do bispo Wright, publicado em 2020 no site da revista Ultimato, também passou a ser um referencial para a entrada de conservadores no debate. Em “Minando o racismo”, Wright busca enfatizar que o papel da igreja na denúncia e no enfrentamento ao racismo deve ser diferente da abordagem do Black Lives Matter ou do movimento negro. Para ele, os dois eram agentes do politicamente correto, sem motivação cristã.
Mas como apenas vozes brancas não bastam, foi preciso também encontrarem vozes negras conservadoras para dar “lugar de fala” à abordagem “antirracista” com resquícios racistas. Foi assim que o livro “Liberating black theology” (“Libertando a teologia negra”, em tradução livre), do pastor e teólogo negro conservador Anthony Bradley, voltou à cena nos Estados Unidos e também no Brasil.
Nele, Bradley afirma que “a maior falha da teologia da libertação negra é que ela vê as pessoas perpetuamente como vítimas”, numa alusão direta a Cone. Também afirma que “muitos negros, impregnados de vitimologia, exercem indignação hipócrita a serviço de expor as inadequações do ‘outro’ (por exemplo, pessoa branca) ao invés de encontrar um caminho a seguir”.
Bradley é um token perfeito, nos Estados Unidos e aqui. Em um artigo publicado no site Teologia Brasileira, a psicóloga evangélica e defensora do ensino domiciliar (branca, bom destacar) Ana Carolina Mafra escreveu uma crítica sobre a Teologia Negra, elogiou o livro de Bradley e disse que a teologia de James Cone “é o resultado de algumas décadas de um cristianismo que é raso em conhecimento bíblico e que em nome do ser ‘progressista’ abriu mão de credos fundamentais da fé cristã”.
Teologia Negra
É verdade que a Teologia Negra não é a única forma ou viés pelo qual o racismo no contexto do cristianismo pode ser abordado. Mas dificilmente aqueles e aquelas que desejam entrar nesse debate poderão ignorar que a Teologia Negra traz os elementos necessários e indispensáveis para que a abordagem do tema seja feita. E parece difícil lidar com ele de maneira muito distante de como o movimento negro (que é diverso) tem pautado há décadas.
Em 1986, foi criada a Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Racismo, que reuniu representantes das igrejas que então compunham o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. A comissão funcionou sob a presidência do reverendo Antônio Olímpio de Sant’Ana, uma referência evangélica brasileira no combate ao racismo.
Podemos ainda falar do professor afro-americano Peter Nash, que no início da década de 1990 deixou os Estados Unidos para iniciar um período de ensino na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, no sul do Brasil. Nash foi fundamental para a produção de materiais de estudos bíblicos populares e acessíveis sobre a questão racial no país. Ao mesmo tempo, foi fundador do grupo Identidade, de papel importante na produção acadêmica teológica sobre a presença negra na Bíblia – e também na abertura de uma compreensão antidemonizadora da cultura e das religiões africanas.
Relembro isso isso apenas para falar de um background histórico do debate no Brasil e da tentativa de se fazer com que a igreja olhe para o tema com carinho e abertura. Deixarei de fora as muitas produções recentes e nomes de gerações posteriores, como Maricel Mena López, pastor Marco Davi, Nancy Cardoso, etc.
Conservadores são bem-vindos ao debate sobre igreja e racismo. Mas devem chegar cientes de que ele não começou em 2020 e não passou a causar tensões em 2023. A própria interdição e silenciamento de uma história evangélica de luta contra o racismo e as consequências da escravidão – pela identificação desses esforços com o progressismo, o ecumenismo ou até mesmo o marxismo, – é o atestado de desonestidade, desconhecimento e fracasso da entrada no debate.
Há muita história percorrida, a despeito do esforço conservador de criar a conversa por outras vias, que muitos deles dizem ser “à luz da Bíblia”. Esse é um ótimo recurso narrativo para deixar subentendido que as outras formas até então em atividade e que se dizem evangélicas, na verdade, não são feitas a partir da Bíblia. A conversa já começou errada.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?