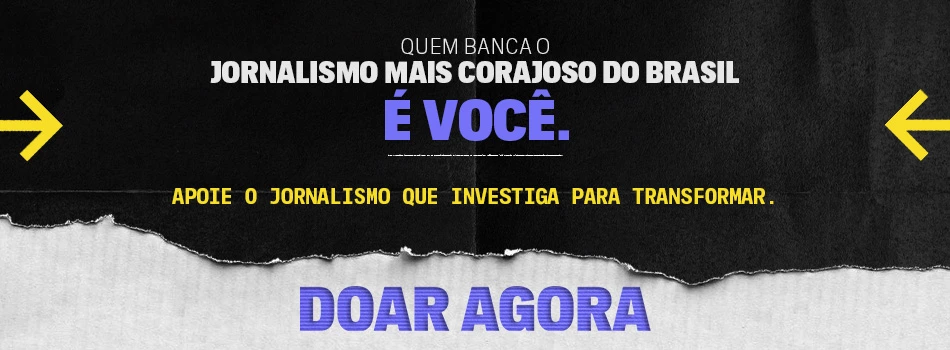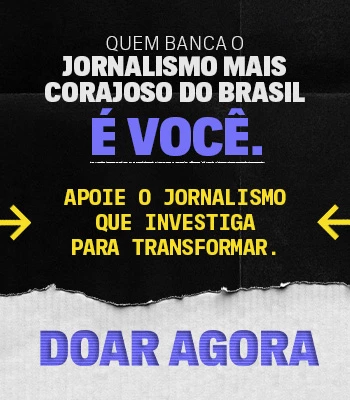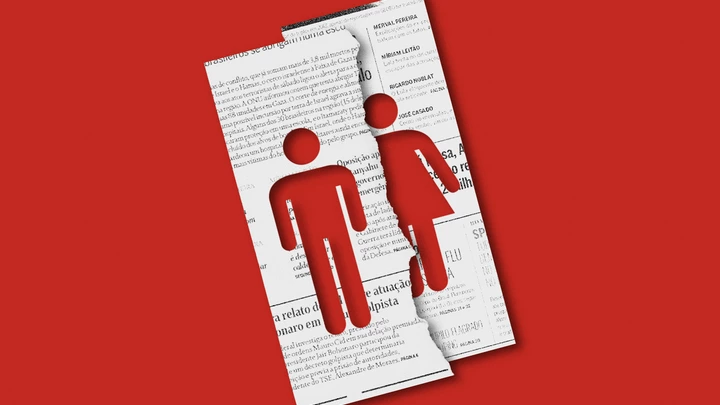“Era uma redação boa pra caralho”. Foi assim que um amigo definiu, semanas atrás, o local onde trabalhamos 10 anos atrás. Estávamos falando sobre as mudanças no jornalismo, no espaço cada vez menor para grandes reportagens, na precarização da profissão, nas possibilidades trazidas pelas redes sociais. Fiquei pensando na frase. É claro que ele se referia ao ótimo time do qual fazíamos parte, dezenas de pessoas apaixonadas em noticiar, apurar, analisar, conhecer. Mas o “boa pra caralho” me remeteu a uma miríade de outras questões profissionais vivenciadas não somente por mim, mas por outras mulheres cisgêneras com quem trabalhei.
Pouco tempo depois, veio a rumorosa demissão da jornalista Thais Bilenky, repórter da revista piauí e uma das apresentadoras do extinto podcast Foro de Teresina. Enquanto lia algumas das centenas de opiniões que pululavam no meu Twitter sobre o episódio, lembrei da “redação boa pra caralho” evocada pelo meu amigo.
Ele tinha razão: no geral, as redações – e o jornalismo como um todo – são boas pra caralho. Resolvi ouvir outras mulheres que vivem (ou tentam viver) da mesma profissão.
Thais, cuja excelência profissional está impressa em diversas reportagens, foi desligada da empresa poucos meses depois de apurar, escrever e apresentar o podcast Alexandre, que vasculhou a vida e obra do atual ministro mais famoso do Supremo Tribunal Federal. Em pouco mais de uma semana – com apenas dois dos seis episódios no ar –, o programa lançado em 31 de julho estava em primeiro lugar no ranking das plataformas Spotify e Apple.
Mas, apesar do ótimo trabalho e dos resultados, a jornalista – uma mulher branca, mãe de uma criança, formada na Universidade de São Paulo e ex-repórter da Folha – foi dispensada. Logo depois, seu colega de bancada, o jornalista José Roberto de Toledo, pediu demissão em protesto. Tanto ele quanto Fernando Barros e Silva, também membro do podcast, são brancos. Uma semana depois, o Foro foi extinto.
Eventos que sacodem cenários aparentemente plácidos são importantes para que a gente olhe com mais atenção o que realmente acontece ao nosso redor. Este é o caso, e é preciso mirá-lo colocando na mesa não só questões de gênero, mas, igualmente, de raça.
Para muita gente, o jornalismo foi, ou ainda é, a profissão do super-homem: uma atividade que requer frieza, coragem, alguma arrogância, competitividade. Estas características, que não são específicas de nenhum gênero, estão atreladas aos caras, presentes em nosso imaginário como os desbravadores por excelência do espaço público. Frequentemente, para ser respeitada nesse ambiente muito competitivo, as mulheres e homens que não operam nessa dinâmica precisam performá-la.
“Jornalismo foi o que os homens fizeram comigo, uma espécie de endurecimento”, escreveu Marilene Felinto no livro “Fama e infâmia“. Esse texto me atravessa profundamente. Trabalhei justamente no periódico que o pai de Marilene lia com as páginas abertas no colo, o Jornal do Commercio, de Pernambuco. E, assim como ele, de saco cheio da pobreza, eu também abria o jornal como uma janela para um mundo inteiro a conquistar. A grande diferença é que eu estava escrevendo nele.
Para isso, toda vez que deixava meu filho na escola e entrava na redação, acionava uma espécie de botão que me cobria com uma película muito especial, uma blindagem porosa para dar conta daquele espaço amplo repleto de desejo, graça, machismo, amizade, homofobia, resiliência, racismo, companheirismo, talento, classismo e fúria.
Desenvolvi a película com o tempo, atenta aos miúdos do cotidiano: na primeira semana, estagiária recém-contratada, fui almoçar no bandejão com duas colegas de editoria. Uma delas comentou, rindo, que eu não sabia usar garfo e faca para cortar a fruta da sobremesa. Outra vez, um editor gritou à procura de alguém com “colhões” para fazer uma matéria. Lá, colegas heterossexuais se chamavam de “viadinho” e “bicha doida” em frente aos repórteres gays.
Em pouco tempo, entendi que tudo aquilo era muito “normal” e que aquela redação se repetia em todo Brasil. Mas elas eram e elas são, sobretudo, o lugar da elegia ao super-homem, sejam repórteres, fotógrafos, editores ou chefes. Os dois primeiros voltavam diversas vezes das ruas encobertos por uma certa capa de heroísmo. Eram aguardados com ansiedade pelos editores, para quem logo mais contariam seus feitos, todos replicados na reunião diária de fechamento, no fim da tarde. Eram exaltados nos corredores, no cafezinho e principalmente nos indefectíveis bares do pós-expediente.
Ah, os bares pós-expediente. Era ali que se completava a aura heróica dos caras: piadas, autocongratulações, elogios à coragem, sagacidade, frieza. Uma confraria na qual somente algumas mulheres, preferencialmente aquelas dotadas das “características másculas” do super-herói, podiam participar.
Abro a palavra a Alcione Ferreira, de 48 anos, fotógrafa e artista visual com 23 anos de profissão e passagem pelo Diário de Pernambuco:
Na época em que trabalhava como repórter fotográfica, cobri algumas rebeliões em presídios da região metropolitana do Recife. Em uma dessas coberturas, cheguei ao local, de onde nós jornalistas, por determinação da segurança da unidade prisional, deveríamos ficar a uma certa distância. Notei que havia uma unidade móvel de uma emissora de televisão que tinha uma base elevada de onde seria possível fazer algumas imagens. Perguntei ao câmera se podia ficar com ele naquela estrutura e ele autorizou.
Um outro fotógrafo, de uma empresa de jornalismo concorrente, ao ver a cena e sabendo que não poderia subir também porque a unidade não comportaria mais peso, decidiu ir até um dos policiais que estavam próximos e inflamou: “Olha, policial, e pode?”. E o policial veio até mim e disse: “Desça daí agora”.
Respondi que não havia ultrapassado a linha de segurança e estava dentro dos limites impostos. A diferença é que estava numa estrutura elevada e que antes de minha chegada já havia alguém lá, o câmera da emissora. Mesmo assim, o policial ordenou que eu descesse.
Eu desci e olhei bem para o meu “colega” fotógrafo. Ele olhava para o vazio, saindo da cena, uma das atitudes mais covardes e machistas que já vivenciei. Esse cara é considerado por outras/os colegas como uma “figura massa”, “gente boa”, “um menino”. Eu torço para que ele leia e se reconheça nesse relato.
Jornalismo ainda é mais favorável ao ‘brilho’ dos homens
As estratégias de competição andam de mãos dadas com outras dimensões desafiadoras e igualmente silenciadas, como a maternidade. No quadro geral, valendo para qualquer profissão, o cenário é ruim: o Brasil é um país cujo mercado de trabalho formal também repele as mães. Um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que, após 24 meses, quase a metade das mulheres que pediram licença-maternidade foi dispensada dos empregos – e esse padrão continua 47 meses após o fim do período de licença. O portal Empregos.com.br, depois de ouvir 273 mães entre 18 e 45 anos, mostrou que as demissões após licença-maternidade atingem 56% delas.
Esse contexto é uma realidade há tempos, sabemos. Trabalhando como repórter, e por entender que precisava ser super-homem, aprendi que jamais poderia citar o nome do meu filho como impeditivo para realizar um trabalho. Afinal, eu tinha que ter colhões. Tive a sorte, graças à ajuda financeira de uma das avós, de poder colocar meu filho em uma escola integral. Eu o deixava às 7h30 e voltava para pegá-lo às 17h30, 18h, 18h30. Ou 19h, 19h30. Ou, como na vez que uma professora o levou para casa, porque eu não consegui sair do trabalho, às 21h.
Costumo dizer que um dia deixei Mateus na escola, quando ele tinha 1 ano e meio, e fui buscá-lo quase 9 anos depois. Sempre que penso nisso, meus olhos ardem e o coração diminui. Eu sinto a falta de um menino que, eu sei, eu não vivi.
Abro a palavra para Maria do Carmo Barbosa, de 50 anos, mãe, repórter e editora com a qual tive a honra de trabalhar:
O ambiente de trabalho era muito mais favorável ao “brilho” e “reconhecimento” dos talentos dos homens do que das mulheres. Precisávamos fazer muito mais para ter o mesmo “destaque” interno, as mesmas oportunidades de estrutura de trabalho. Enfim, uma “corrida” sempre desigual.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo publicou em 2018 um levantamento no qual 53,4% das 477 mulheres ouvidas afirmaram que tinham menos oportunidades de progredir em suas empresas do que seus colegas homens. Ser mulher foi um impeditivo, segundo 39,4% delas, para obter uma promoção no emprego, enquanto 35,4% responderam que ser mulher as impediu de ter aumento no salário. 84% das jornalistas relataram ter sofrido situações de violência psicológica, incluindo humilhações de chefes (o assédio sexual aparece alto na pesquisa).
Infelizmente, a associação não inseriu a questão “raça”, fundamental, no levantamento (naquele momento, eu participava da diretoria da entidade, mas não fiz parte da pesquisa). Voltarei a esse ponto.
Abro novamente a palavra, agora para Annabelle Barroso, 57, jornalista com mais de 32 anos de experiência:
Fui contratada como editora de uma revista na qual trabalhei por 15 anos. Entrei nela para cumprir tarefas antes exercidas por dois jornalistas homens. Meu chefe direto, diretor de edição, tinha comigo um tratamento agressivo e colérico. Com ele, passei por vários episódios de assédio moral.
O mais desconfortável foi devido ao nepotismo, relativo à contratação, por pressão, da filha dele para fazer frila para a revista. Ele interveio o quanto pôde para favorecê-la no processo de edição. Na hora do pagamento pelo serviço, ele me questionou sobre o valor pago a ela, comparando as fotos amadoras que ela realizou (e que ele “empurrou” na edição, para serem usadas junto com o texto produzido por ela) com o valor pago a uma fotógrafa profissional que havia colaborado para outra matéria naquela edição.
Esse contratempo resultou na tentativa dele de me demitir alguns meses depois. Não conseguiu, mas rebaixou o meu salário, num processo de terceirização pelo qual passou toda a redação. Por conta de tantos episódios negativos nessa relação, tratei, o quanto pude, de contratar mulheres para trabalhar na redação. Psicologicamente, foi a forma que encontrei de blindar a mim e a equipe contra esse e outros tipos de assédio que sofríamos de homens que estavam em posições hierarquicamente superiores às nossas na empresa.
Mulheres negras ‘nunca se sentem seguras’ no jornalismo
Quando aponto que a questão da raça é crucial para entender a real posição das jornalistas no mercado de trabalho brasileiro, é não só por saber que mulheres negras são aquelas que mais sofrem assédio e recebem os menores salários do país. É também por ouvir colegas diversas a respeito, e, claro, fazer parte desse contingente perpassado fortemente pelos constrangimentos de gênero e raça.
Lembro, por exemplo, quando descobri que, entre seis repórteres especiais na redação, três homens e três mulheres, eu recebia o menor salário – os três repórteres homens tinham os mais altos vencimentos, algo como 30% a mais que todas as colegas. Assim, fiz um acordo “compensatório” e passei a trabalhar em casa até que meu salário fosse ajustado de acordo com o das outras repórteres. Eu já tinha feito um doutorado, realizado projetos importantes, recebido reconhecimento dos pares, terceirizado os cuidados do meu filho, mas, ainda assim, nunca mereci o salário de um super-homem.
Quando relacionada à raça, a qualificação em tese tão prezada pelo mercado muitas vezes não significa muita coisa. Trabalhando como jornalista freelancer e formada em um contexto mais atual, no qual as redações se rarearam, Agnes Sofia Guimarães, de 30 anos, é mestre em Comunicação pela Unesp e doutoranda em Linguística Aplicada pela Unicamp, com pesquisa sobre ativismo de dados e segurança pública. Sabe programar, fez trabalhos em vários veículos de jornalismo independente e organizações do terceiro setor. Mas não conseguiu trabalhar de maneira mais perene como repórter, um sonho antigo. Com a palavra, Agnes:
Tive muita dificuldade de entrar em uma redação, de ser repórter. Desde a graduação, passei muito racismo na Unesp, a ponto de mudar do diurno para o noturno. A maior parte das pessoas que eram racistas comigo eram mulheres. Estudava com pessoas que teriam mais chance, que poderiam depois conseguir algo em São Paulo. Eu sou do interior, Praia Grande, e não conseguia estagiar na capital. A minha família não tinha condições.
Fiz muitos cursos, aproveitando [o dinheiro dos] trabalhos que tinha como jogadora de xadrez. Desde a graduação, ficou evidente que eu teria que fazer três vezes mais. Terminei e tentei mestrado direto, para provar que eu podia ser uma jornalista especializada. Fui trabalhar em um estágio atrelado ao mestrado em Brasília. Tinha chance de ser chamada para ser consultora ou mesmo ser efetivada. Mas em vez de trabalhar nas redes sociais, que era minha função, fui alocada em um almoxarifado. Sofri um acidente lá: um armário quase desabou sobre mim, cheio de livros. O que me doeu é que várias pessoas negras trabalhavam lá, mas ninguém fez nada, com medo de perder o emprego.
Voltei para São Paulo, sempre com o sonho de ser repórter. Aí, fui aprender a programar. Continuei com dificuldade de vender pautas. Entrei no doutorado na pandemia e no segundo ano tive a chance de trabalhar no jornalismo independente. Se a imprensa tem hoje mais profissionais negros, é por causa do jornalismo independente. Os programas de trainees dos grandes jornais não conseguem atender.
Consegui um trabalho em um site de educação, mas durou apenas um ano – eles informaram que não receberam um financiamento e me dispensaram. Meu salário atrasou mais de um mês, mas soube que meus colegas receberam antes. Eu era a única repórter negra do lugar. Trabalhei como repórter substituta na Ponte Jornalismo e foi a melhor experiência que me aconteceu.
Cobri a Operação Escudo, na Baixada Santista. Publiquei 13 reportagens em vários veículos diferentes, muitas foram plagiadas. Me senti ameaçada na época, mas nenhum dos veículos me deu segurança. Algumas vezes, as pessoas simplesmente não me reconheciam como jornalista. Tive que eu mesma pagar para trabalhar. Estou terminando o doutorado e, às vezes, fico angustiada, pensando que talvez eu tenha apostado demais no jornalismo.
A presença – e a ausência – de pessoas negras nas redações foi tema da pesquisa Letra preta: a inserção de jornalistas negros no impresso, de Yasmin Santos, ex-repórter da piauí, a redação da qual fazia parte, como dito, Thais Bilenky. Atualmente, apenas quatro pessoas negras – duas mulheres e dois homens – são efetivamente contratadas na redação da revista, e não há nenhuma mulher em um cargo de chefia (a última editora, Fernanda da Escóssia, também foi recentemente demitida).
Esse cenário não é novo e caracteriza o veículo desde o seu nascimento. Repórteres negros contratados, aliás, só mais recentemente tiveram promoções e/ou salários aumentados (na gestão do diretor de redação André Petry, que assinou uma nota sobre o entrevero e precedeu o comando de Fernando Barros). Essa não é uma questão menor, principalmente no caso de um veículo que se posiciona, nas redes e em suas páginas, contra as desigualdades provocadas pelo racismo.
Com a palavra, Assunção Santos, de 29 anos, que já colaborou no veículo e hoje integra a assessoria de um parlamentar.
Se uma repórter reconhecida é dispensada logo depois de entregar um projeto de sucesso, o que pode acontecer com as outras? Porque um colega dela [José Roberto de Toledo] saiu da redação para atuar somente no podcast e foi mantido [antes de pedir demissão], mas ela não? Se uma repórter branca, uspiana, do Sudeste, com excelentes contatos sociais e passagem na Folha passa por um episódio como esse, o que esperar da vida profissional de uma maioria de mulheres pretas e pardas e “fora do eixo” que não possui esse mesmo pacote? A verdade é que a gente nunca se sente segura.
Assunção se refere ao fato de Bilenky ter expressado o desejo de deixar Brasília e trabalhar em São Paulo, onde nasceu e está sua família, um suporte a mais na criação de seu filho. Petry não concordou com uma repórter de política a menos no Distrito Federal e, já insatisfeito com sua produção, a demitiu. A jornalista publicou sua saída nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram e tudo parecia seguir o rumo normal, até seu colega de bancada – que não mantinha relação com a redação após a entrada de Petry – publicar o pedido de demissão feito no ar, mas cortado do programa.
Agora, depois da calmaria que sucede toda treta, realoquemos melhor os holofotes: que eles saiam da rinha entre os homens brancos acostumados aos altos cargos de poder para perscrutar as dinâmicas de gênero e raça que conformam o jornalismo, da New Yorker à piauí.
Para saber mais:
- A dissertação “Masculino, o gênero do jornalismo: um estudo sobre os modos de produção das notícias”, de Márcia Veiga, é um dos melhores trabalhos sobre como a produção do jornalismo é perpassada por padrões de masculinidade.
- O artigo “O ensino do jornalismo em tempos de mudança ou como a Universidade deve suplantar o Super-Homem”, de João Figueira.
Observação: durante meu período na redação, não trabalhei com pessoas transgêneras, hoje mais presentes nas redações (ainda que essa presença precise ser muito mais estimulada).
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?