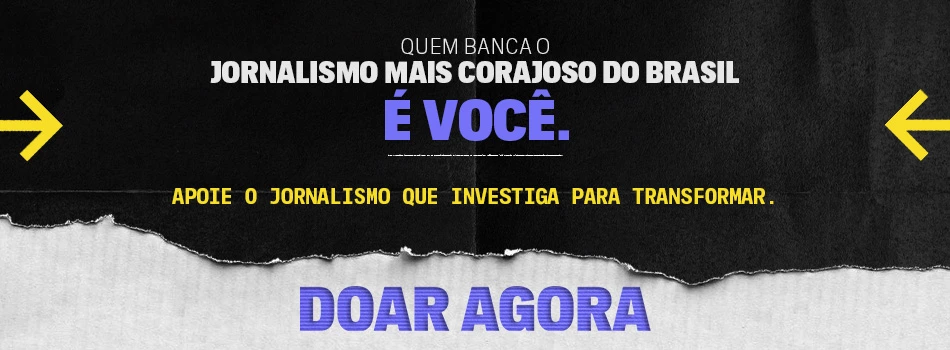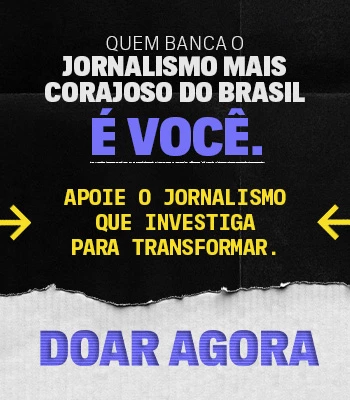Em 2015, estive na Palestina com um grupo de brasileiros para conhecer os diferentes aspectos da colonização israelense. Um dos locais que visitei foi Lifta, hoje um parque nacional, muito visitado por judeus no final de semana. Na visita, o grupo de brasileiros foi escandaloso: cantava, dançava, fazia piadas. O vilarejo é um lugar agradável quando não se sabe sua história.
Lifta foi um dos vilarejos despovoados na Nakba, o termo que os palestinos utilizam para designar a destruição da sua nação pela criação do estado de Israel. Após incursões militares de milícias sionistas em Lifta, o massacre em 9 de abril de 1948 no vilarejo vizinho de Deir Yassin obrigou os habitantes remanescentes do vilarejo a fugir.
Lifta é um caso excepcional entre os vilarejos palestinos despovoados onde hoje é Israel: suas ruínas foram preservadas. É possível ver nas antigas casas de pedra os buracos no teto que os soldados sionistas fizeram para impedir o retorno dos antigos moradores. Esses palestinos, inclusive, não moram longe dali. A maioria é habitante de Jerusalém oriental e residente formal sob a legislação israelense, mas estão impedidos de retornar por Israel até hoje.
Na visita em 2015, estive em Lifta acompanhado por meu amigo palestino Obay Odeh. Obay é neto de Yacoub Ahmad Odeh, que foi obrigado a deixar sua casa no vilarejo, quando tinha oito anos.
À noite, depois da visita dos brasileiros, durante uma conversa com o grupo, Obay pediu a palavra. Ele chamou atenção para o desrespeito que havia sido a visita a Lifta. Um desrespeito à memória da catástrofe do povo palestino. Uma limpeza étnica que expulsou mais de 750 mil pessoas, destruiu mais de 400 vilarejos e matou mais de 15 mil palestinos.
Para ilustrar seu ponto, Obay comparou o comportamento do grupo à visita, no dia anterior, ao Yad Vashem, o Museu do Holocausto de Jerusalém, que fica a poucos quilômetros de Lifta. O grupo esteve sóbrio e respeitoso durante o tour que retratava o genocídio que os judeus sofreram na Europa.
Obay chamou atenção para algo que percebi ali pela primeira vez: enquanto o Holocausto judeu era sagrado para nós, brasileiros, a Nakba nem chegava a ser profana. Não era nada, eu diria. Não existia em nosso imaginário construído pela mídia e pela história sob a hegemonia da narrativa ocidental e eurocêntrica.

Da espetacularização do genocídio judeu ao apagamento da Nakba
A percepção do Holocausto judeu como um evento sagrado e incomparável na história tem sido construída socialmente nas últimas décadas. Após 1945, a história judaica a respeito dos eventos da II Guerra Mundial retratava, principalmente, a resistência judaica antifascista: o poder e a força dos judeus em resistir, não o seu sofrimento.
Até o documentário ‘Shoah’, do diretor francês Claude Lanzmann, ser lançado em 1985, as atrocidades cometidas pelos nazistas contra os judeus na Europa eram pouco conhecidas do grande público. Os trabalhos de Elie Wiesel, um romeno sobrevivente de Aushwitz, como ‘Noite’, de 1986, foram centrais para popularizar a narrativa judaica do Holocausto. O que se seguiu foi uma espetacularização do Holocausto judeu, principalmente nos EUA, que tem servido para justificar os crimes cometidos por Israel e o apoio incondicional dos EUA ao país.
Enquanto o Holocausto judeu era sagrado para nós, brasileiros, a Nakba nem chegava a ser profana.
Importante ressaltar: não estou criticando a recuperação da memória do Holocausto judeu. Ela é fundamental para compreender a chaga que este genocídio representa para a vida de milhões de judeus e para a humanidade. Mas este processo de espetacularização tornou o Holocausto um genocídio único na história da humanidade. E essa excepcionalidade tem sido instrumentalizada por Israel para tornar as suas ações excepcionais sob os olhos do mundo, como o genocídio em curso em Gaza.
Por essa razão, a declaração de Lula comparando o atual genocídio israelense contra os palestinos ao genocídio nazista contra os judeus tem provocado tamanha celeuma.
“A palavra genocídio não é um sinônimo de Holocausto”, disse, por exemplo, Michel Gherman, importante intelectual judeu sionista brasileiro e historiador do sionismo. “O Holocausto é a maior chaga da história da Humanidade, um momento de horror que nunca poderá se repetir. Não é medida de comparação com nada. Fazer isso é banalizar o mal absoluto e a determinação de exterminar um povo”, postou Vera Magalhães, jornalista e apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura.
Aqui não quero negar algumas singularidades do Holocausto, como os campos de extermínio com câmaras de gás. Contudo, todo genocídio possui singularidades e é excepcional para o povo vitimado. Como o próprio Gherman demonstra em artigo, os palestinos também entendem a Nakba como excepcional.
A Shoah também é excepcional para os judeus europeus, mas exclusivamente aos judeus europeus. Aqui entra o primeiro memorícido, isto é, o apagamento da memória que a narrativa contemporânea do Holocausto promove: tornar a tragédia dos judeus europeus universal para todos os judeus.
Os judeus que viviam na África e na Ásia no início do século 20 não sofriam a mesma subjugação racista que os judeus na Europa. Embora viver em territórios de maioria muçulmana, particularmente sob o Império Otomano, tivesse seus problemas, os judeus orientais não sofriam perseguição racista como a enfrentada pelos judeus europeus. Como diz o professor iraquiano-israelense Avi Shlaim, “antissemitismo não era um problema árabe, mas europeu”.
O segundo memoricídio da narrativa contemporânea do Holocausto diz respeito das outras vítimas do nazismo, como os ciganos, negros, LGBTQs, comunistas e antifascistas, que também estiveram sob custódia alemã em campos de concentração e extermínio. Embora o racismo anti-judeu tivesse uma centralidade, os judeus não foram as únicas vítimas. Tornar o nazismo uma questão exclusivamente judaica oculta camadas importantes do nazifascismo e o mal que representou para a humanidade como um todo.
Isso ficou evidente, por exemplo, quando o podcaster Monark se declarou contrário à “criminalização de um partido nazista” no Brasil, em 2022. Para se desculpar, Monark se declarou defensor do estado de Israel. A defesa do estado sionista é um expediente muito comum entre notórios antissemitas, como Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, Viktor Orban, primeiro-ministro da Hungria, e Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa.
A espetacularização do Holocausto judeu tem servido para justificar os crimes cometidos por Israel e o apoio incondicional dos EUA ao país.
O apoio ao sionismo, um nacionalismo étnico fundado no racismo contra os palestinos, se tornou uma forma de lavar o antissemitismo de outros ultranacionalistas de extrema direita que sempre tiveram na subjugação racial dos judeus um aspecto central da sua identificação nacional.
A jurista Arnesa Buljušmić-Kustura, especialista no estudo de genocídios, chama atenção para um ponto central que a redução da história do Holocausto nazista provoca: a incapacidade de aprendermos com os erros do passado. “Há um campo inteiro de literatura acadêmica dedicado a fazer comparações entre genocídios. O ponto da educação do genocídio é desenhar paralelos entre genocídios para que não repitamos os erros do passado. Um absurdo gigantesco fingir que isso é antissemita”, ela postou em resposta a uma crítica do US Holocaust Museum a Lula.
Mas, como lembra Karl Marx, as repetições históricas têm uma diferença: “a primeira como tragédia, a segunda como farsa”. A denúncia de Benjamin Netanyahu de que Lula foi antissemita ao comparar o genocídio em Gaza ao Holocausto nazista e a rejeição israelense do direito internacional – como os julgamentos em curso na Corte Internacional de Justiça e no Tribunal Penal Internacional –, que entende o que está acontecendo em Gaza como genocídio, demonstra o poder político e retórico que a excepcionalização do Holocausto traz para o presente. Isso tudo em detrimento da autodeterminação e da sobrevivência do povo palestino.
Holocausto e colonialismo
Eu discordo que o Holocausto nazista seja a principal referência para compreender o genocídio israelense em Gaza. Melhor referências são os genocídios coloniais, como o dos povos ameríndios por europeus a partir do século 15; o do povo congolês pela Bélgica entre os séculos 19 e 20; e o da Alemanha contra os povos herero e nama, onde hoje é a Namíbia, no início do século 20.
A morte tem sido uma forma de poder colonial recorrentemente usado para a expulsão e controle de povos indígenas ao longo da história para facilitar a expropriação de sua terra e a exploração de seu trabalho, como bem lembra o filósofo camaronês Achile Mbembe.
Uma das principais referências teóricas para entender o colonialismo israelense na Palestina é o australiano Patrick Wolfe. A sua obra seminal “Settler colonialism and the elimination of the native” [Colonialismo por povoamento e a eliminação do nativo, em tradução livre] foi publicada em 2005 no Journal of Genocide Research. No artigo, Wolfe compara diferentes colonialismos por povoamento, como o britânico da América do Norte e o israelense da Palestina, para demonstrar a existência de uma lógica de eliminação comum. Essa eliminação se daria de diversas formas: através do assassinato, da miscigenação, do aculturamento, da expulsão e do confinamento.
LEIA TAMBÉM:
- Israel-Palestina: 11 distorções sobre Gaza e Hamas que a mídia vai contar hoje
- Veja como a mídia dos EUA protegeu Israel
- “The Lobby”: censurado por Israel
Cada processo colonial possui as suas particularidades, mas todos seriam constituídos por esta lógica para fazer do colonizador o novo nativo da terra a partir da eliminação da sociedade indígena. Enquanto a colonização das Américas seria caracterizada pela morte, miscigenação e aculturamento, a colonização israelense da Palestina seria distinta principalmente pela expulsão, como na Nakba de 1948.
Esse processo, entretanto, está em curso: os palestinos vêm sendo expulsos continuamente desde 1948. Embora a expulsão dos palestinos de Gaza para o Egito pareça ser a prioridade da atual agressão de Israel, é visível, como reivindicado por diversos juristas, a intenção genocida das ações israelense que já provocaram a morte de mais de 30 mil palestinos em quatro meses.
Diversos intelectuais, como Aime Cesaire, W. E. B. Du Bois e Hannah Arendt, já apontaram para como o genocídio nazista na Europa é legatário dos genocídios coloniais pelos europeus. Os campos de concentração, por exemplo, foram desenvolvidos originalmente pelos alemães na colonização da Namíbia. As conexões entre esses eventos fizeram com que o historiador Mike Davis desse o título de Holocaustos Coloniais para o seu livro sobre os extermínios provocados pelos europeus na África e na Ásia, no século 19.
Todo genocídio possui singularidades e é excepcional para o povo vitimado.
Portanto, o Holocausto, a Nakba e o atual genocídio israelense em Gaza fazem parte da mesma história do genocídio que atravessa os colonialismos europeus e os seus herdeiros, como o nazifascismo. É a história das diferentes encarnações do racismo. A excepcionalização do Holocausto judeu, inclusive, reproduz a hierarquia racial pois os judeus europeus são as únicas vítimas brancas de um genocídio europeu — embora os judeus não fossem considerados brancos até a primeira metade do século 20, mas uma raça separada.
Essa dinâmica racial ao mesmo tempo excepcionalizou os judeus, o seu genocídio e, consequentemente, o seu estado, enquanto apagou as vítimas do nacionalismo judeu: os palestinos. A Nakba não possui a mesma importância que o Holocausto judeu para nós, brasileiros, pois somos educados dentro do sistema ocidental e eurocêntrico. Este é o terceiro memoricídio da narrativa dominante a respeito do Holocausto.
O apagamento da Nakba é complementar à excepcionalização do Holocausto judeu. É necessário que o Holocausto judeu seja excepcional para justificar o apoio incondicional e, no limiar, injustificável que o Ocidente presta a um estado responsável por cometer um genocídio colonial em pleno século 21.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?