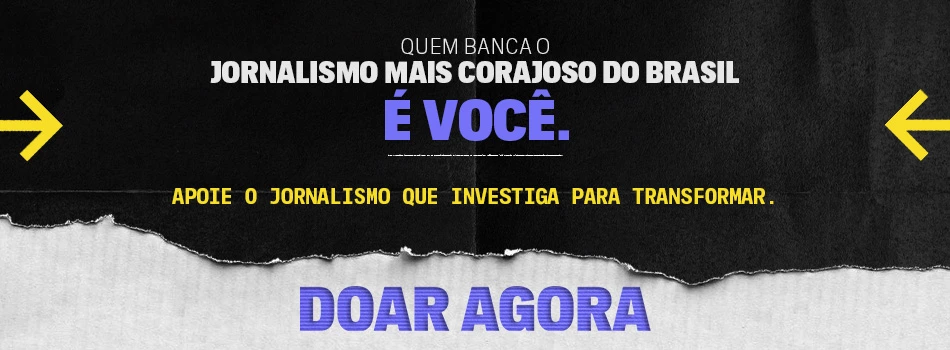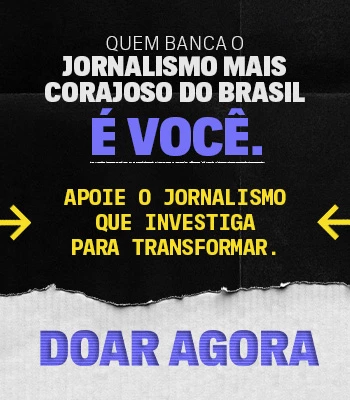Esta matéria, originalmente publicada no site Pluralistic, foi traduzida em parceria com Cory Doctorow.
Há uma sociopatia muito reconfortante aninhada na ideologia capitalista: se os mercados são sistemas que reconhecem e recompensam a virtude, a capacidade e o valor, quem fracassa no sistema não é azarado, é indigno. Isso significa que os vencedores não são apenas pessoas de sorte (muito menos só uns egoístas), mas são de fato os melhores, e não devem nada aos socialmente inferiores, salvo o que seus próprios impulsos caridosos determinem.
É um verniz econômico para a velha doutrina teológica da providência divina, que afirma que Deus demonstra suas preferências dando às pessoas fortuna e status, enquanto lança os ímpios na pobreza. E como a crença religiosa na providência, a crença capitalista na meritocracia é essencial para resolver a dissonância cognitiva: permite aos vencedores de barriga cheia se sentirem moralmente justificados em passar por cima dos perdedores famintos.
A discussão sobre mérito e sorte nos acompanha há milênios, e mesmo os monarcas absolutistas hereditários da Idade do Bronze precisaram encontrar uma forma de solucioná-la. Para os governantes da antiguidade, o caminho para a quadratura do círculo era o jubileu.
Os jubileus da Idade do Bronze eram celebrações periódicas em que todas as dívidas eram perdoadas. Diferentes reinos tinham diferentes calendários de jubileu, mas podemos imaginar uma mistura entre “a cada x anos”, “toda vez que um novo governante assumir o trono”, e “sempre que algo realmente magnífico acontecer”. Para a sensibilidade moderna, a ideia de que poderíamos simplesmente perdoar todas as dívidas de vez em quando é praticamente inconcebível. Por que uma sociedade praticaria o jubileu? E, mais importante, como um governante conseguiria fazer com que toda a classe dos credores ricos aceitasse um jubileu, sem responder com uma derrubada revolucionária?
As melhores respostas para essa pergunta podem ser encontradas na produção acadêmica do historiador Michael Hudson, que escreveu extensamente sobre o assunto. Hudson não escreve apenas para um público acadêmico, ele também é um excelente comunicador, com um verdadeiro compromisso de levar sua pesquisa para o público leigo.
A máxima mais famosa de Hudson é: “dívidas que não podem ser pagas, não serão pagas”. É nessa densa pérola que podemos encontrar a resposta para o enigma do jubileu.
Vamos começar com um modelo simples de dívida e crédito em uma sociedade agrícola. Nas sociedades agrícolas, tudo existe a partir da agricultura, que é a atividade central da civilização. Se os agricultores tiverem sucesso, todos podem comer, e isso significa que também podem fazer outras coisas, todo o trabalho não agrícola da sociedade.
Para ter sucesso na agricultura, é preciso ter crédito. Os agricultores chegam à estação de plantio precisando de insumos: sementes, fertilizantes, trabalho; e precisam de mais trabalho ainda durante a colheita. Sem algum meio de adquirir esses insumos antes de ter uma safra que pague por eles, os agricultores não têm como produzir safra nenhuma.
‘A verdadeira origem do dinheiro não é a permuta, é a dívida.’
Não é de se espantar, então, que o registro mais antigo que temos de “dinheiro” sejam livros contábeis de crédito, que registram as dívidas dos agricultores que tomam empréstimos garantidos pela próxima safra, para pagar pelos insumos e pelo trabalho necessários para cultivá-la. A verdadeira origem do dinheiro não é a permuta, é a dívida. O conto de fadas de que o dinheiro em moeda teria surgido espontaneamente para ajudar os negociantes de permuta no mercado a facilitarem o comércio não tem comprovação histórica, mas os livros contábeis babilônicos podem ser vistos presencialmente em museus do mundo inteiro.
A agricultura requer uma habilidade enorme, mas mesmo o agricultor mais habilidoso é prisioneiro da sorte. Não importa o quanto alguém seja excelente agricultor, não importa o quanto trabalhe duro, não importa o cuidado no planejamento, ainda é possível perder uma colheita para doenças, seca, tempestades, ou pragas.
Assim, com o tempo, todo agricultor perde alguma safra. Quando isso acontece, ele não consegue pagar suas dívidas, que precisam então ser roladas e pagas com futuras colheitas. Isso significa que, aos poucos, a parte de cada colheita a que o agricultor tem direito vai diminuindo. Por causa dos juros compostos, nenhuma colheita abundante consegue zerar as dívidas das colheitas ruins.
Ao longo do tempo, então, “agricultor” se transforma em sinônimo de “devedor”. A produção dos agricultores é cada vez mais apropriada pelos ricos e poderosos. E não importa o quanto todos precisem de alimentos, são os caprichos da classe de credores hereditários que passam a ditar as prioridades agrícolas do país. Mais flores ornamentais para a mesa dos ricos, menos produtos básicos para as massas. “Credor” e “devedor” já não descrevem relações econômicas: tornam-se castas hereditárias.
É aí que entra o jubileu. Sem alguma forma de interromper esse ciclo da espiral de dívida, a sociedade se torna tão instável que o sistema entra em colapso.
Em outras palavras: dívidas que não podem ser pagas, não serão pagas. Ou você perdoa as dívidas dos agricultores com a classe credora, ou a sua sociedade entra em colapso, e com ela, as relações políticas que tornavam essas dívidas possíveis de pagar.
O jubileu já acabou há muito tempo, mas isso não significa que dívidas que não podem ser pagas serão pagas. A sociedade moderna preencheu o espaço do jubileu com a falência, um procedimento jurídico para livrar um devedor de suas dívidas.
‘Em outras palavras: dívidas que não podem ser pagas, não serão pagas.’
A falência tem muitas formas. A divisão mais importante em termos de falência se dá entre a falência das elites e a falência das pessoas comuns. A sociedade de responsabilidade limitada foi criada para permitir que pessoas com dinheiro unissem seus recursos para financiar empresas sem se responsabilizarem por suas dívidas. Essa “formação de capital” é considerada “eficiente” pelos economistas porque ela cria o suporte necessário para grandes projetos ambiciosos, desde a colonização e extração de riquezas de terras distantes (como a Companhia da Baía de Hudson), até a criação de cadeias globais de fornecimento (Apple).
A responsabilidade limitada significa que as empresas podem assumir dívidas sem expor seus investidores a riscos para além de sua participação no capital. Se você adquirir mil dólares em ações da Apple, é só isso que você pode perder se a Apple tomar decisões ruins. A Apple pode acumular bilhões em passivo – por exemplo, abusando de sua força de trabalho subcontratada – mas os proprietários da Apple não responderão por isso.
Os economistas gostam disso porque significa que você pode investir na Apple sem precisar estar a par de todas as decisões cotidianas de gestão, o que significa que a Apple pode acumular enormes volumes de capital, “alavancá-los” pegando ainda mais empréstimos, e depois colocar todo esse dinheiro para trabalhar em P&D, desenvolvimento de produtos, marketing, e, claro, “incentivos” para os principais funcionários e gestores.
Mas a responsabilidade limitada também faz muita coisa na esfera política. Uma vez que um indivíduo atravessa um certo limiar de riqueza, ele se torna uma sociedade limitada. Contadores, gestores de patrimônio e consultores financeiros insistem nisso. Para freelancers e outros profissionais autônomos, os benefícios de constituir uma empresa são poucos – alguns benefícios fiscais e a possibilidade de obter um cartão de crédito empresarial com algumas vantagens.
Mas para os realmente ricos, tornar-se a pessoa física no centro de um vasto conjunto de sociedades limitadas é essencial, porque permite que eles acumulem dívidas e se livrem delas. Você pode ter propriedades para alugar e maltratar seus inquilinos em segredo, acumular um passivo enorme enquanto as autoridades aplicam pilhas de multas, e depois simplesmente descartar a empresa e suas dívidas. Se a jogada for planejada com bastante cuidado, a empresa devedora não terá ativos em sua massa falida além do prédio de apartamentos em ruínas, e o credor com maior grau de preferência e garantia será uma de suas outras empresas. Isso permitirá que o especulador transfira seu bloco de apartamentos de um bolso para o outro, deixando a dívida para trás.
Para uma pessoa jurídica, a eliminação das dívidas por meio da falência é uma prática honrosa. Longe de ser motivo de vergonha, uma falência oportuna e bem estruturada é apenas uma comprovação de tino para os negócios. Pense nos aproveitadores de private equity, que adquirem uma empresa com empréstimos que usam a própria empresa como garantia, pagam a si mesmos imensos “dividendos especiais”, depois cancelam a dívida levando a empresa à falência (o que também permite rescindir suas obrigações com fornecedores, empregados, e, principalmente, aposentados e suas aposentadorias). Como diria Trump (um falido em série que já passou a perna em hordas de prestadores de serviço e credores): “isso significa que eu sou esperto”.
A apoteose da falência de elite pode ser vista nas colossais falências corporativas, em que uma sociedade anônima mata e mutila inúmeras pessoas, e depois manobra para levar o caso a um dos três tribunais federais dos EUA onde juízes especialistas batem um carimbo “exoneração involuntária de responsabilidade de terceiros”, e assim liquidam as obrigações da empresa perante as vítimas por centavos de dólar, enquanto a empresa consegue manter seus bilhões.
Houve um abuso tão óbvio do processo por empresas como a Johnson & Johnson (que passou anos conscientemente aconselhando as mulheres a passarem em suas vulvas talco contaminado por amianto, o que ocasionou uma epidemia de cânceres genitais horríveis que podem levar à morte), que isso finalmente está gerando investigações e resistência em alguma medida.
Mas a situação precária das falências de elite tem mais a ver com a corrupção individual do seleto grupo de juízes que controlam o sistema do que com a indignação pública sobre suas decisões; como um juiz no estado americano do Texas que estava secretamente transando com a advogada para quem ele também entregava centenas de milhões de dólares.
Realmente não ouvimos muito sobre o “risco moral” de permitir que a família Sackler, envolvida no tráfico de opioides, mantenha dez bilhões de dólares em contas offshore, ao mesmo tempo em que vira as costas para as vítimas de seu império de promoção das drogas, independentemente das artimanhas bizarras que eles empreguem para colocar em prática o golpe.
Mas quando se trata de perdoar as dívidas de pessoas normais, o “risco moral” fica em primeiro plano. Se você é uma pessoa que tomou um empréstimo de 79 mil dólares (R$ 432 mil) em financiamento estudantil, pagou 190 mil (R$ 1,03 milhão) e ainda deve 236 mil (R$ 1,3 milhão), não podemos perdoar sua dívida, em razão da mensagem que isso transmitiria às pessoas que desejam (confere as anotações) ter um curso superior.
O lado antijubileu também quer que a gente pense nos pobres credores: quem emprestaria dinheiro à próxima geração de estudantes se o perdão das dívidas estudantis fosse uma possibilidade? Claro, esses são empréstimos com garantia federal, sem risco, dinheiro de graça para quem já tem dinheiro, uma espécie de renda básica universal para as pessoas que menos precisam. A ideia de que esse poço de recursos possa secar se estiver limitado a cobrar apenas as dívidas que podem ser pagas, em vez de insistir no pagamento das dívidas que não podem ser pagas, eleva a classe de credores hereditários ao lugar de espécie frágil, que se assusta à toa e está ameaçada de extinção.
Mas os argumentos mais fortes contra a falência estão assentados na noção de providência divina. Em um mercado eficiente, qualquer pessoa que vá à falência foi necessariamente imprudente. Ela recebeu crédito a que não tinha direito, porque lhe faltava o mérito intrínseco que permitiria administrar esse crédito com sabedoria. Permitir que ela deixe suas dívidas para trás significa que nunca aprenderá com seus erros, e que os demais nascidos-para-ser-pobres aprenderão a lição errada com essas dívidas: de que existe uma vida fácil fazendo empréstimos, gastando, e se livrando das dívidas na falência.
Acontece que essa é uma proposição que pode ser testada empiricamente. Se essa visão de falência individual como fracasso pessoal estiver correta, as pessoas físicas que pedem falência, no Brasil chamada de insolvência civil, e sobrevivem para pegar empréstimos novamente, deveriam terminar falindo de novo, também. Por outro lado, se aceitarmos a perspectiva do jubileu, de que a dívida resulta do acúmulo de infortúnios, muitas vezes incluindo o infortúnio do próprio nascimento em situação de pobreza, então a falência representa uma segunda chance, com a oportunidade de evitar o infortúnio.
Um estudo recente dos pesquisadores Gustaf Bruze, Alexander Kjær Hilsløv e Jonas Maibom, do Instituto IZA de Economia do Trabalho, fez exatamente essa análise empírica. O título é “The Long-Run Effects of Individual Debt Relief” (Os efeitos de longo prazo do perdão individual de dívidas), e analisa a vida das pessoas por um quarto de século após uma insolvência civil.
O estudo acompanha algumas dessas insolvências na Dinamarca, após a introdução do primeiro sistema moderno de falências da Europa continental, instituído pela Dinamarca em 1984. Antes disso, os dinamarqueses, como a maior parte da Europa, não permitiam a quitação de dívidas pessoais por meio da falência. Se um devedor fosse à falência, aproximadamente 20% de seu salário seria extorquido pelo resto da vida para pagar os credores, até que as dívidas fossem pagas ou o devedor morresse (o que viesse primeiro).
Após 1984, o sistema de falências da Dinamarca importou características da falência nos EUA/Reino Unido/Comunidade das Nações, incluindo a possibilidade de reestruturar e quitar as dívidas. Nem todas as pessoas se qualificam para esse tipo de falência: há um sistema burocrático que verifica se as pessoas que estão em busca de perdão das dívidas pela falência não têm um grande número de bens que poderiam ser entregues a seus credores.
Mas para as pessoas de (pouca) sorte que se qualificam para os benefícios da falência, há um fascinante experimento natural em que o destino das pessoas que obtiveram perdão das dívidas pode ser comparado ao de pessoas falidas que não conseguiram se livrar de suas dívidas.
Após receberem os benefícios da falência, as pessoas têm menor probabilidade de depender de ajuda do governo.
Aparentemente, a Idade do Bronze tinha algumas coisas para nos ensinar. A conclusão principal do estudo: as pessoas que recebem o perdão de suas dívidas na falência experimentam “um grande aumento nos índices de renda auferida, emprego, bens, imóveis, dívidas com garantia, casa própria e riqueza, que persiste por mais de 25 anos após uma decisão judicial”.
Após receberem os benefícios da falência, as pessoas têm menor probabilidade de depender de ajuda do governo. Elas conseguem empregos melhores. Suas famílias vivem melhor. Seus credores conseguem receber alguma parte do dinheiro de volta (que é tudo que eles podem esperar de forma realista, já que “dívidas que não podem ser pagas, não serão pagas”).
Como Jason Kilborn escreveu para o blog Credit Slips: “os benefícios do perdão das dívidas não são apenas substanciais, mas robustos, uma vez que os devedores aprendem a lição (como se houvesse algo a aprender) sobre administração de finanças, e capitalizam (literalmente) seu recomeço”.
Mais um ponto para a teoria da riqueza baseada na sorte, e um a menos para a hipótese da meritocracia providencial.
Os americanos deveriam prestar atenção nessas conclusões. Afinal, os dinamarqueses estão protegidos da principal causa de falência nos EUA: dívidas de saúde. Nos EUA, quebrar um osso ou ter câncer, ou até pedra nos rins, pode acabar com uma vida inteira de trabalho duro, planejamento cuidadoso e gastos prudentes. Os EUA se recusam a levar esse problema a sério. O melhor que conseguiram foi uma medida (bem-vinda, mas ínfima) para proibir os serviços de proteção ao crédito de destruírem sua pontuação de crédito por dívidas de saúde.
Milênios atrás, todos entendiam que as dívidas que não podem ser pagas, não serão pagas, e criaram um sistema para perdoar dívidas e libertar as pessoas produtivas da tirania do passivo acumulado, para benefício de todos. Desmontar esse sistema exigiu de nós a invenção de um elaborado sistema teológico, revestido com uma linguagem econômica.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?