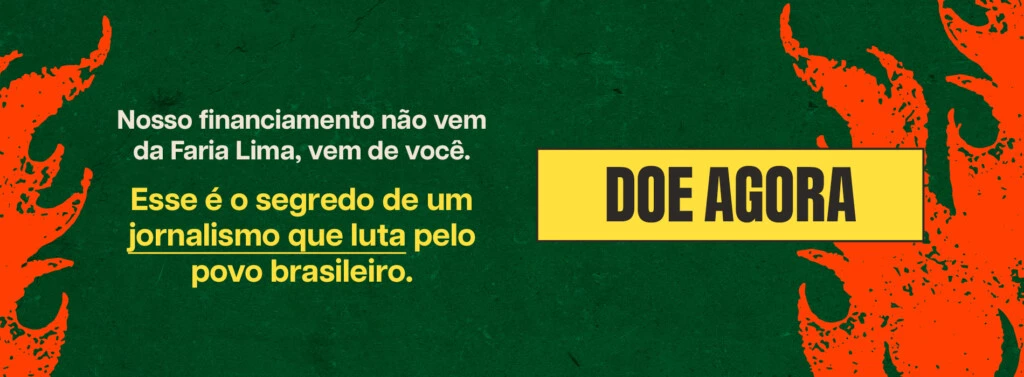Em 1996, grávida de cinco meses de mim, minha mãe, Eliana Ferreira, e meu progenitor, Paulo Vidal, escolheram o bairro Sarandi – periferia localizada na zona norte de Porto Alegre – como o lugar para formar uma nova família.
Esse é um fio que conecta muitas vidas e destinos. Meus três irmãos mais velhos também se mudaram para a mesma casa alugada na rua Alcides Maia. Uma casinha adorável, de madeira, com árvores no pátio, uma parreira aos fundos e cor-de-rosa. Passou a ser chamada por nós de rosinha.
Em março deste ano, eu e minha mãe caminhávamos pelo bairro quando avistamos a rosinha, casa da qual saímos quando eu tinha quase cinco anos. “E pensar que vim pra cá cheia de sonhos”, ela disse.
Meses depois, os sonhos remanescentes e as casas foram arruinados pela enchente que assolou Porto Alegre e parte da região metropolitana em 3 de maio, atingindo três gerações da minha família de uma só vez.
O Sarandi se tornou o bairro mais destruído de Porto Alegre. De acordo a prefeitura, 26.042 pessoas foram afetadas. A calamidade já completou três meses.
O estrago no bairro tomou a proporção que tomou principalmente pelo transbordamento das águas do dique Arroio Sarandi e seu rompimento. Mas o Sarandi seguiu alagado por mais de um mês; um tanto pela calamidade e problemas crônicos de alagamento na região e um outro tanto por descaso. Um descaso que perdura mesmo com a baixa d’água.

Ainda no começo da tarde do dia 3, fui informada pela rádio que o Arroio já transbordava. Eu, que atualmente moro no Centro Histórico, um dos bairros mais próximos ao Guaíba e que já tinha recomendação de evacuação emitida na manhã daquele dia, já me organizava para buscar abrigo.
Muita gente foi para casa de pais ou demais familiares. Mas percebi que o Sarandi não seria um lugar seguro para estar. Rapidamente me veio à memória a inundação no bairro em 2013 por conta do rompimento do dique, e senti o medo tomar conta. Naquela ocasião, a água ficou mais concentrada em alguns pontos, mas entrou na casa em que morava com minha mãe e irmã na Rua Domingos de Abreu, alcançando a altura dos tornozelos.
Passei duas semanas fora do meu apartamento, abrigada na casa de amigas. Me senti num beco sem saída. Minha casa não era um refúgio seguro para receber parte dos meus familiares, assim como me juntar a eles também não era o mais seguro a ser feito. Tudo o que tínhamos era o WhatsApp como fonte de comunicação.
Na noite do dia 3, minha mãe subiu todos os móveis e eletrodomésticos que podia. Minha irmã mais nova foi para a casa de um parente. Nessa mesma noite, minha mãe foi para a casa da minha irmã. No início da madrugada, minha outra irmã, com a família e seus animais de estimação, viram a água invadir sua casa e evacuaram com a ajuda de amigos. No dia 4, todos estavam reunidos na casa de uma das minhas irmãs, Lia, que se tornou uma fortaleza: era o lugar com abrigo mais alto entre meus familiares do bairro.

Lia é casada com Jonas Jaroceski. A família dele foi para o Sarandi no início dos anos 90. Instalaram-se numa casa modesta e abriram um bar. Com anos de trabalho, conseguiram comprar um terreno e casas para a família, distribuídas por quatro andares.
Mas a água atingiu cerca de três metros na rua, alcançando o letreiro do bar e quase cobrindo o telhado. No domingo, dia 5, as famílias decidiram que era hora de evacuar.
A sacada se tornou ponto de resgate. Conseguiram uma equipe voluntária com barcos e um jetski e poucos coletes salva-vidas, que foram colocados apenas nas crianças. Avós, pais e filhos foram resgatados lado a lado. Ao todo, 11 pessoas.
Minha sobrinha de nove anos, quando desceu do barco em terra firme, se ajoelhou, aos prantos, e disse “Meu Deus, agora eu sou uma pessoa de rua”, ao se perceber sem casa.

Quando soube que todos tinham sido resgatados, fiquei aliviada, porque desde o início me preparei para o pior cenário. Mas fiquei atônita e até hoje tenho dúvidas se assimilei essa cena e tudo que se passou desde então.
Morei no Sarandi até 2020. A sensação de perceber que justamente eu, que saí do Sarandi, não tive minha casa e meus pertences atingidos, foi dura. O alívio individual não era completo com minha família devastada.
Enquanto bastaram duas semanas para voltar pra minha casa, acompanhei angustiada um mês parcialmente alagado no Sarandi. Foram semanas de muita ansiedade, angústia, revolta, impotência e raiva. Pensar nas roupas, móveis e fotografias da minha família à deriva num lodo nojento me atravessou de forma profunda.
Lidar com a falta de priorização de soluções e de respostas, mesmo diante do estado dramático, fazia com que eu internalizasse a dor que sempre me acompanhou: a de que o projeto político hegemônico é este. Nossas memórias não importam, nossas conquistas não importam, nossa dignidade pouco importa.
Era como se o horizonte tivesse sido achatado por tanta desesperança, como se não tivesse razão pela qual sonhar, desejar, realizar, uma vez que, para pessoas que vêm de onde eu venho, tudo isso pode ser coberto por água, esgoto e lama.
Entrei em contato com um profundo sentimento de não-lugar. Sentia dificuldade em honrar minhas dores e minhas perdas imateriais frente às dores e perdas concretas enfrentadas por meus familiares e minha comunidade.
Pensava nas escolas em que estudei – e nas quais meus sobrinhos estudam – sendo atingidas. Eles, inclusive, só retomaram suas aulas na última semana e de modo online.
Pensava também na casa para qual minha mãe recém havia se mudado, os aniversários que comemorei, nas ruas em que aprendi a andar de bicicleta, na calçada onde dei meu primeiro beijo.





Abrir uma casa alagada por um mês é uma das coisas mais devastadoras que alguém pode fazer. A cena é desesperadora. Durante os três dias de limpeza da casa, oscilávamos entre alívio cômico, exaustão, nojo e pesar. O nojo era além do visual, tinha textura, som e cheiro. O cheiro, sem dúvida, o pior deles.
Passar horas e horas juntando um amontoado de ruína com odor de esgoto e, no meio disso, identificar lembranças, fotos, roupas e móveis foi duro. Desovar o quarto da minha mãe e da minha irmã foi o mais difícil. Encarar tudo que elas tinham virando uma montanha de lixo exigiu muita força e resignação. É um processo que afeta nossa dignidade.

A sensação de desamparo veio forte uma vez que minhas “duas mães” foram atingidas. O terreiro Ilê Oxum Panda Ieie – Richie, da mãe Saionara de Oxum, é meu chão espiritual e também fica no Sarandi. Ele foi um dos 750 terreiros alcançados pela enchente de maio, conforme levantamento do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul.
O estado é o que mais tem casas de terreiro em todo Brasil, com cerca de 65 mil. Mãe Saionara me falou com muito alívio que suas feituras, assentamentos onde ficam os orixás da casa, não foram atingidas. Mas sua casa, o salão onde realizava festas e rituais, suas imagens, e a mesa onde joga búzios, foram todos afetados.
Perguntei a ela se o impacto da tragédia na sua casa e seu terreiro haviam abalado sua fé. Ela disse com convicção: “Minha fé é muito forte. Não ia ser uma água dessas que ia enfraquecer, não”.

O trauma da enchente deixou ainda mais latente o desejo de alguns de largar a cidade e voltar a morar no interior do estado. Parte da minha família já deixou o Sarandi.

O bar de minha irmã segue fechado. É na antiga cozinha que me reuni com amigos para higienizar, secar e tentar recuperar as fotos da família que foram inundadas. Elas são o meu maior patrimônio.
Tenho ficado íntima das nuances do tempo. O presente, o passado e futuro se misturam em meio a um processo de lodo emocional. A urgência do resgate no pico da crise versus o tempo de espera frente a permanência do alagamento, o tempo de corrosão das fotos úmidas aprisionadas em álbuns. Já faz três meses. O tempo passa rápido, ao passo que o dia 3 de maio parece não ter acabado, frente ao longo e indeterminado tempo da reconstrução.
2026 já começou, e as elites querem o caos.
A responsabilização dos golpistas aqui no Brasil foi elogiada no mundo todo como exemplo de defesa à Democracia.
Enquanto isso, a grande mídia bancada pelos mesmos financiadores do golpe tenta espalhar o caos e vender a pauta da anistia, juntamente com Tarcísio, Nikolas Ferreira, Hugo Motta e os engravatados da Faria Lima.
Aqui no Intercept, seguimos expondo os acordos ocultos do Congresso, as articulações dos aliados da família Bolsonaro com os EUA e o envolvimento das big techs nos ataques de Trump ao Brasil.
Os bastidores mostram: as próximas eleições prometem se tornar um novo ensaio golpista — investigar é a única opção!
Só conseguimos bater de frente com essa turma graças aos nossos membros, pessoas que doam em média R$ 35 todos os meses e fazem nosso jornalismo acontecer. Você será uma delas?
Torne-se um doador do Intercept Brasil hoje mesmo e faça parte de uma comunidade que não só informa, mas transforma.