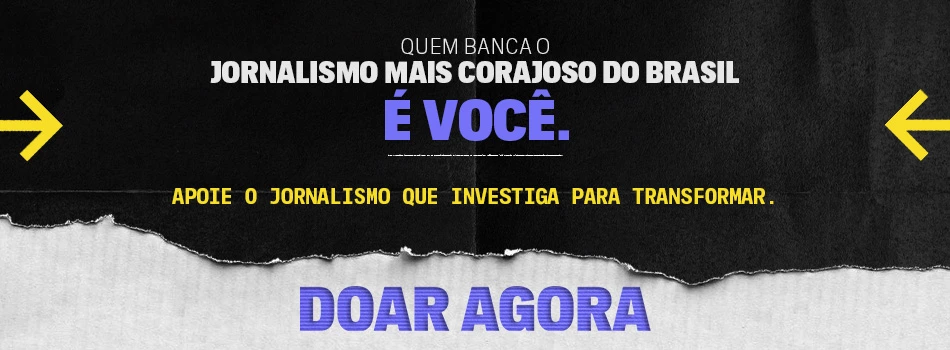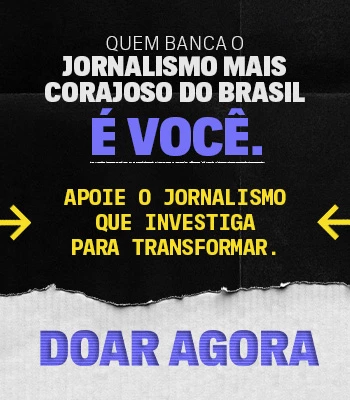Dos protestos de junho de 2013 no Brasil à Primavera Árabe, da onda de protestos na Ucrânia à revolta no Chile, a última década foi marcada por uma onda global de mobilizações populares. Milhões de pessoas tomaram as ruas exigindo mudanças, mas, passados alguns anos, o que restou dessas revoltas? Em muitos casos, os movimentos não apenas fracassaram em alcançar seus objetivos, como também abriram caminho para forças políticas que representavam o oposto do que defendiam.
Agora, em 2025, os desdobramentos dessa década de protestos seguem sendo sentidos. A possível prisão de Jair Bolsonaro, após sua inelegibilidade, gera expectativas sobre o futuro do bolsonarismo e da extrema direita no Brasil. Nos Estados Unidos, a volta de Donald Trump ao poder expôs a dificuldade da esquerda em mobilizar resistência efetiva contra ele.
No cenário internacional, a Guerra da Ucrânia continua sem um desfecho claro, mais de dois anos após a invasão russa. Paralelamente, as relações entre Egito, Israel e EUA se complicam, com o governo do egípcio Abdel Fattah al-Sisi enfrentando pressões internas e externas em meio à escalada da crise no Oriente Médio.
Diante desse cenário, a pergunta que Vincent Bevins levanta em A Década da Revolução Perdida permanece mais atual do que nunca: por que os movimentos populares da última década não conseguiram transformar sua energia inicial em mudanças concretas e duradouras?
Essa é a questão central do novo livro do jornalista, autor do aclamado O Método Jacarta. Baseado em mais de 200 entrevistas em 12 países, o novo livro de Bevins investiga como protestos que começaram como revoltas progressistas contra governos e sistemas falidos acabaram resultando na ascensão da extrema direita, na intensificação da repressão e, em muitos casos, no agravamento das crises que buscavam resolver.
No Brasil, a transformação das manifestações de junho de 2013 em um fenômeno que fortaleceu a direita ilustra esse paradoxo. Bevins, que cobriu os protestos como jornalista, analisa como a falta de liderança clara e a organização horizontalizada — elementos muitas vezes celebrados nos levantes populares — podem ter se tornado fraquezas fatais, tornando os movimentos mais vulneráveis à manipulação e à repressão. Seu diagnóstico se aplica não apenas ao Brasil, mas a revoltas em todo o mundo, onde o entusiasmo inicial deu lugar à desilusão e, em alguns casos, ao autoritarismo.
Bevins também discute o papel das redes sociais nos protestos. Se por um lado elas possibilitaram mobilizações rápidas e massivas, por outro, criaram ciclos de indignação efêmeros, dificultaram a construção de estratégias de longo prazo e facilitaram o trabalho de contra-insurgência dos governos. Para ele, o modelo descentralizado de ativismo foi uma vantagem no início, mas mostrou-se frágil quando confrontado com Estados que rapidamente se adaptaram e passaram a manipular o próprio ambiente digital.
LEIA TAMBÉM:
- ENTREVISTA: ‘Estamos entre o pacto suicida da extrema direita e o zumbi neoliberal’
- ENTREVISTA: Anúncio da Meta bajula Trump, mas é tiro no pé no Brasil
- ENTREVISTA: ‘Eu era do PT. Agora sou Centrão’
A década de 2010 foi também um período de esgotamento do neoliberalismo. Para Bevins, a esquerda falhou em oferecer respostas organizadas e estruturadas para essa crise, enquanto a extrema direita soube se apropriar do descontentamento popular e canalizá-lo para suas próprias agendas. Em diversos momentos da história recente, argumenta ele, as ruas foram tomadas por manifestantes exigindo mudanças, mas sem uma estratégia clara para transformar protesto em poder político, deixando um vácuo que foi ocupado por aqueles que já tinham estruturas prontas para explorar o caos.
Ao longo da entrevista ao Intercept Brasil, Bevins discorreu sobre os padrões comuns que unem as revoltas populares da última década, a repressão estatal, a influência da tecnologia e, principalmente, as lições que podem ser extraídas desses levantes para evitar que os erros do passado se repitam. Confira a seguir:
Intercept Brasil – Seu primeiro livro, O Método Jacarta, trata do genocídio indonésio e de como as técnicas de repressão desenvolvidas naquele contexto foram exportadas para ditaduras ao redor do mundo. Já A Década da Revolução Perdida analisa as manifestações da década passada em vários países. Existe uma relação entre os dois livros?
Vincent Bevins – Sim, e essa relação é central para entender o que aconteceu nos últimos anos. O Método Jacarta explora como os EUA e seus aliados ajudaram a destruir a esquerda organizada no Sul Global durante a Guerra Fria, um processo que culminou na consolidação do neoliberalismo e na ideia de que não havia alternativas reais ao sistema.
A Década da Revolução Perdida, por sua vez, investiga o que aconteceu quando multidões tomaram as ruas contra esse mesmo sistema, mas sem estruturas organizadas que pudessem canalizar sua energia para transformações políticas duradouras. Enquanto o primeiro livro termina no “fim da história”, o segundo começa no “fim do fim da história”, no momento em que o neoliberalismo entra em crise, mas sem uma alternativa clara para substituí-lo.

Você estudou protestos em contextos muito distintos, do Brasil ao Egito, passando por Grécia e Hong Kong. Há elementos comuns entre esses levantes?
Sim, e é isso que torna esse fenômeno tão fascinante. Apesar das enormes diferenças entre os países, os protestos da década passada compartilharam uma forma específica de organização: foram descentralizados, coordenados principalmente pelas redes sociais e rejeitaram hierarquias tradicionais. Isso não aconteceu por acaso.
Esses movimentos surgiram dentro do mesmo sistema global e digital, e, em alguns casos, houve tentativas explícitas de replicar táticas de outros países. O que se viu foi uma espécie de “receita” de protesto se tornando dominante – um modelo que teve impacto imediato, mas que, na maioria dos casos, falhou em criar mudanças estruturais. Alguns conquistaram vitórias pontuais, mas, sem organizações fortes para sustentá-las, esses ganhos foram rapidamente desfeitos.
No livro, você analisa tanto a repressão violenta quanto as formas mais sutis de cooptação. Poderia dar exemplos?
A resposta a esses movimentos varia amplamente, desde vitórias moderadas até guinadas à direita e intervenções estrangeiras. A relação entre as manifestações e os poderes globais é sempre importante, mas, em alguns casos, como na Líbia, a OTAN utilizou reivindicações legítimas sobre o governo de Gaddafi para justificar uma operação de mudança de regime, resultando na destruição do país.
No Egito, um grupo fingiu ser uma revolta popular para organizar um golpe de estado com apoio dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos, instaurando o regime de Al-Sisi, que respondeu com violência, matando quase um milhar de pessoas. No Brasil, o MBL tentou manipular o significado das ruas, com esse jogo de siglas com o Movimento Passe Livre.
Qual sua opinião sobre a dimensão cultural das lutas hoje, considerando o cansaço e a rejeição ao cinismo?
Há um movimento anti-woke e uma rejeição da hegemonia cultural do Partido Democrata nos Estados Unidos. No Brasil, a elite cultural parece unida contra a leitura da história apresentada por Bolsonaro. O exemplo evidente é o sucesso e aclamação unânime do filme Ainda Estou Aqui, que confronta diretamente a narrativa bolsonarista e militarista. E, note, no Brasil, há uma vitória, mesmo que defensiva e relativa, frente à extrema direita.
No Brasil, o MBL tentou manipular o significado das ruas.
Ganhar no campo cultural não garante uma vitória concreta na política, mas ajuda. Inclusive porque hoje há uma cisão entre universos epistêmicos, com bolsonaristas e progressistas vivendo em universos paralelos, em setores da internet que não se encontram. De toda forma, a renovação cultural é possível e necessária, mas difícil de prever.
Seu livro dá grande atenção ao Brasil, mas foi lançado primeiro em inglês. Como a história brasileira tem sido recebida no exterior?
Existe um interesse crescente pelo Brasil na esquerda internacional. Comparado a outros países, o Brasil conseguiu impedir um golpe em 2022 e manter uma estrutura democrática minimamente funcional, algo que contrasta com desfechos mais trágicos em outros lugares. Isso gerou uma espécie de “brasiliofilia”, uma curiosidade sobre o que aconteceu aqui e que lições podem ser tiradas.
Nos Estados Unidos, a recepção do livro tem sido positiva, especialmente entre setores progressistas e do movimento pró-Palestina, que veem paralelos entre as lutas políticas no Brasil e em outras partes do mundo. No entanto, alguns dos elementos ideológicos criticados no livro – como a ênfase excessiva na espontaneidade e na horizontalidade – ainda têm muita força nos EUA, o que torna esse debate mais difícil por lá.
Qual sua avaliação sobre a questão da liderança nos processos políticos e a tensão entre horizontalidade e verticalidade?
Movimentos concretamente horizontais crescem rapidamente, mas grupos horizontalistas têm dificuldades em crescer devido à falta de estrutura burocrática. Uma receita de resistência com manifestações de massa, sem líderes, coordenadas digitalmente e horizontalmente estruturadas, tornou-se hegemônica. Essa combinação é eficaz para atrair pessoas às ruas, mas os organizadores iniciais raramente se beneficiam das oportunidades geradas. Quando o movimento é horizontal, pode crescer rápido, mas não consegue se representar bem frente ao poder existente e não é capaz de se defender contra ataques contra revolucionários. Há uma dificuldade de construir um saldo organizativo em um curto período de tempo.
Quais os aprendizados que a década de 2010 pode oferecer aos novos movimentos?
A organização é fundamental. É preciso organizar-se enquanto parece que nada está acontecendo. Há menos fé na espontaneidade e no horizontalismo como elementos sempre positivos. A combinação de movimentos espontâneos, sem líderes, coordenados digitalmente e horizontalmente estruturados não é mais vista como ideal. Houve mudanças ideológicas nos movimentos, com uma tentativa de construir estruturas e decidir quem falará com a imprensa. No entanto, continua sendo muito mais fácil mobilizar do que organizar.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?