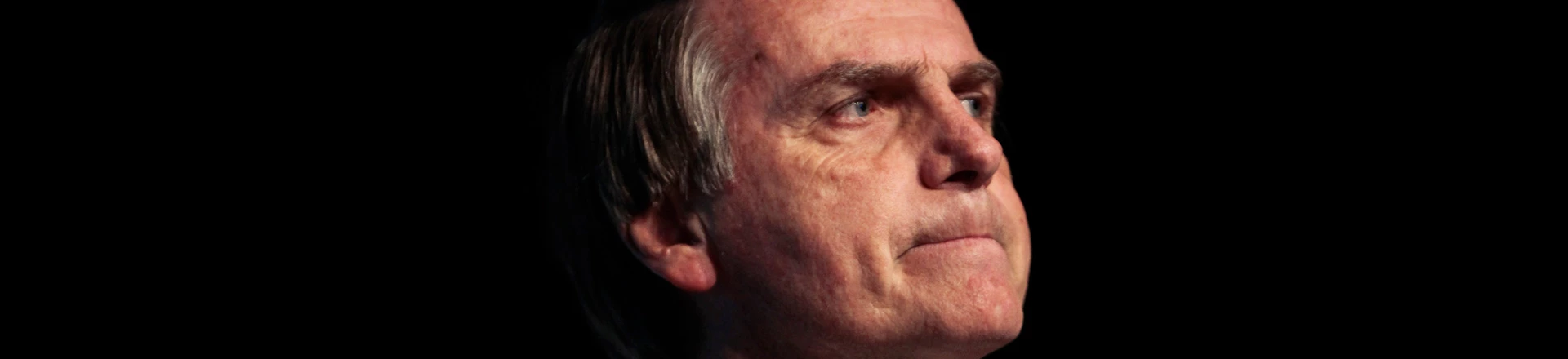Nunca se falou tanto na possibilidade de um impeachment de Jair Bolsonaro como agora. Os dois grandes jornais de São Paulo, Folha e Estadão, clamaram por ele em editoriais. Carreatas pró-impeachment organizadas por partidos de esquerda e até por movimentos de direita começam a ir às ruas nas maiores cidades do país. Líderes de partidos políticos admitiram que o assunto entrou na pauta.
Com tanta pressão, o impeachment pode até parecer próximo e inevitável. Mas não é assim, como demonstrou a eleição avassaladora de Arthur Lira, do PP e do Centrão, para a presidência da Câmara. Com os votos de 302 dos 503 deputados presentes, ele sequer precisou do segundo turno.
Entre as mobilizações que estamos vendo agora e um eventual afastamento do presidente de extrema direita, há um caminho longo e, a esta altura, incerto. Elencamos alguns pontos que irão definir se haverá ou não um processo impeachment.

Arthur Lira, do PP de Alagoas, conquistou 302 votos, mais que o dobro do segundo colocado, Baleia Rossi, do MDB. Foto: Evaristo Sá/AFP via Getty Images
1. Apoio no Congresso com Lira no comando
Ao longo dos primeiros meses de governo, presidentes habitualmente vivem em lua de mel com o Congresso. Não foi o caso de Jair Bolsonaro. Em dezembro de 2019, Artur Lira, do PP alagoano, disse que a articulação política do governo no Congresso era “nula”.
Lira é um dos cabeças do que se chama de Centrão – na realidade, um ajuntamento de parlamentares conservadores, alinhados ao empresariado e ao mercado financeiro, que precisam estar no governo para sobreviver politicamente. Homem de confiança de Eduardo Cunha, ele é alvo de duas investigações por suspeita de corrupção derivadas da operação Lava Jato. Também é acusado pela ex-mulher de agredi-la e ameaça-la – ele nega.
Quando fez as críticas a Bolsonaro, Lira já articulava sua candidatura para suceder o desafeto Rodrigo Maia. Ele chegou lá: é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Contou com o apoio e o empenho de Jair Bolsonaro, que passou por muitas promessas de dinheiro público para garantir votos a Lira.
O que mudou? Fundamentalmente, o medo de Bolsonaro de sofrer um impeachment após o pedido de demissão do ex-juiz Sergio Moro. Pilar do governo de extrema direita, Moro deixou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública afirmando que o presidente havia tentado interferir no comando da Polícia Federal por motivos pessoais.
Assim, em abril de 2020, Bolsonaro chamou o bloco para conversar. Mas o passe do Centrão se valorizou tremendamente dois meses depois, quando Fabricio Queiroz foi preso na casa do advogado da família Bolsonaro em Atibaia, São Paulo.
A partir dali, manter a lealdade ao governo Bolsonaro se tornou “mais difícil”, avaliaram líderes do bloco. Ou seja, custaria mais espaço no governo, e o presidente topou. O Centrão ganhou um ministério todo seu – o das Comunicações, entregue ao PSD de Gilberto Kassab. O deputado federal Ricardo Barros, do PP, que atuou na tropa de choque de FHC, Lula e Dilma na Câmara, foi chamado para liderar o governo na casa. E, agora, Lira levou o bloco ao comando da Câmara, com as bênçãos do presidente.
Isso significa que Bolsonaro está imune a um processo de impeachment? Não necessariamente. É provável que o assunto esfrie por algumas semanas. Mas o agravamento da pandemia de covid-19, com novas – e potencialmente mais graves – cepas do coronavírus circulando, inflada pela gestão desastrada de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde e as atitudes no mínimo irresponsáveis do presidente, pode tornar o custo político de estar ao lado de Bolsonaro alto demais até mesmo para políticos do bloco.
Vamos repetir: deputados do próprio Centrão já admitiram que o impeachment entrou no debate. E o bloco, como já vimos no impeachment de Dilma Rousseff, não é exatamente um aliado leal com que se pode contar até o fim. Partidos como PSD, PP e MDB, que apoiaram a eleição da petista e formaram bancada dela no Congresso, pularam para o barco de Michel Temer assim que ele zarpou.

Evaristo Sá/AFP via Getty Images
2. Ele não. Mas quem?
Hamilton Mourão não era a primeira opção de Jair Bolsonaro para a vice-presidência. Mas um ponto foi seguidamente alardeado por aliados após a escolha: Mourão, um general da reserva que cogitou um golpe contra Dilma Rousseff e é fã do torturador Brilhante Ustra, funcionaria como uma espécie de antídoto contra um eventual impeachment de Bolsonaro.
É verdade que o presidente e Mourão há tempos não se bicam, e que o fosso entre eles vem aumentando. Mas o vice de fato é uma incógnita para quem se dedica a avaliar o impeachment. Não exatamente por ele ter sido militar. Mourão hoje é um político, filiado ao minúsculo PRTB, do irrelevante Levy Fidelix. Mas não se sabe bem que espécie de político.
Bem diferente eram Itamar Franco e Michel Temer, vices e sucessores de Collor e Dilma. Mineiro, Itamar era político desde os anos 1950, filiou-se ao MDB após o golpe de 1964, foi prefeito de Juiz de Fora e senador eleito em 1974 e reeleito em 1982. Já deputado federal e no PL, liderou o partido na Constituinte e foi escolhido por Collor para compor sua chapa por ser do Sudeste do país.
Michel Temer foi presidente da Câmara dos Deputados durante o governo de FHC – e exerceu o cargo de braços dados com o governo do tucano. Com Lula no Planalto, Temer trabalhou para que o então PMDB fizesse parte da base governista. Bem-sucedido, foi premiado com a candidatura a vice-presidente de Dilma Rousseff em 2010 e 2014.
Se Itamar foi discreto e preferiu não ser visto conspirando contra o já moribundo Collor, Temer foi o principal propagandista de si mesmo como alternativa à angustiante paralisia do segundo governo Dilma, com direito a uma patética carta de rompimento.
Não há nenhum sinal de que Mourão se movimente como fez Temer. Mas Itamar jogou parado e, com o agravamento da crise, cristalizou-se como um governante mais viável do que Collor ao mundo político e aos donos do PIB. De Mourão, nem isso pode ser dito.
3. A (im)popularidade do presidente
Cientistas políticos e congressistas costumam repetir que não se faz impeachment de presidente que ainda tenha apoio popular significativo. Para efeitos de comparação, em agosto de 2015, Dilma Rousseff era aprovada por apenas 8% dos entrevistados pelo Datafolha – 71% a reprovavam.
Em texto sobre essa pesquisa, a Folha notava que a petista havia se tornado mais impopular do que Collor às vésperas do seu impeachment, em 1992. Era uma perda de popularidade acelerada – dois meses antes, 65% avaliavam Dilma como ruim ou péssima.
A pesquisa mais recente do mesmo Datafolha sobre Bolsonaro saiu em 22 de janeiro e registrou 40% de reprovação ao presidente de extrema direita. É muito menos rejeição do que Dilma e Collor experimentaram. Mas é uma avaliação negativa que sobe rápido: em dezembro, outra pesquisa Datafolha aferiu 32% de reprovação a Bolsonaro.
Quer dizer: a crise da vacina parece ter colocado Bolsonaro em seu pior momento até agora. Mas ele ainda tem base. Resta saber qual o tamanho dela – ou seja, qual será o piso de popularidade do presidente, representado pelo seu eleitorado fiel, disposto a ir com ele até o fim.
Collor foi eleito por um partido nanico, tentou governar sem formar uma base parlamentar forte e acabou isolado. Não houve manifestações de rua a seu favor. Bolsonaro também chegou ao poder por um partido sem expressão e – até o agravamento das acusações de corrupção contra seu filho mais velho, Flávio – insistiu em desprezar o Congresso.
Só que, ao contrário de Collor, o capitão reformado tem uma base popular organizada, haja vistas as manifestações antidemocráticas ao longo de 2020. Mas o PT de Dilma sempre soube colocar gente na rua – e ela caiu mesmo assim. Porque havia outros elementos na equação: crise econômica e Lava Jato.
A pandemia é aliada de Bolsonaro. Ela desencoraja grandes manifestações nas ruas, que poderiam derrubar a popularidade do presidente. As carreatas não fazem o mesmo efeito das grandes aglomerações populares, que geram imagens fortes – como lembra qualquer um que acompanhou as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff na televisão e nos jornais – com poder de engajar os indecisos.

Mau desempenho da economia, liderada por Paulo Guedes, pode ser um ingrediente a favor do impeachment. Mauro Pimentel/AFP via Getty Images
4. Bolso vazio
A economia não vai bem sob Bolsonaro. O desemprego é recorde, houve recessão inédita em 2020 – algo esperado, em função da pandemia do novo coronavírus –, mas a coisa já não ia bem em 2019. No primeiro ano do governo de extrema direita, o PIB cresceu 1,1% – menos que nos anos Temer. Pior, a economia brasileira naquele momento tinha o mesmo tamanho que em 2013. E ainda não existia a covid-19.
Tem mais: o auxílio emergencial, aprovado e inflado graças à oposição e à Câmara e que foi responsável pela maior distribuição de renda da história do país, acabou. E não há, no governo, consenso sobre a prorrogação dele. Há ministros favoráveis, mas Paulo Guedes, o liberal de segunda linha que comanda a economia bolsonarista, se alterna entre reformas que não saem do lugar, privatizações que nunca começam e promessas estapafúrdias – para não dizer mentirosas. E sofre oposição até do presidente. Com isso, a simpatia do “mercado financeiro” – nome pomposo para banqueiros e outros ricaços que vivem de emprestar dinheiro ao governo – já não é a mesma de tempos atrás.
Agora, vamos olhar para o que está na história. Quando Collor começou a ser ameaçado de impeachment, a economia estava em estado deplorável. O país vivia o auge de uma crise econômica em que o Brasil estava desde os anos 1980. O inflação chegou a 2.500% ao ano em 1993 e nunca baixou de 500% ao ano durante o mandato de Collor.
Para tentar derrotar a inflação, o governo dele confiscou as poupanças de todos os brasileiros. Deu errado, levou famílias inteiras à ruína e corroeu a aprovação do presidente.
Por outro lado, Lula nunca foi ameaçado de impeachment nem no momento mais delicado do governo dele, no escândalo do mensalão. A economia rescia sem sobressaltos e estava em trajetória ascendente. Já sob Dilma…
5. O custo do impeachment para Lira
O impeachment mira o presidente da República, mas a história mostra que o Congresso – principalmente a Câmara dos Deputados – não sai ileso do processo. Ele requer que parlamentares estejam dispostos a arriscar até o futuro de suas carreiras políticas.
As últimas horas de Rodrigo Maia na presidência da Câmara mostram isso. Irritado com a interferência de Bolsonaro na disputa, ele ameaçou retirar da gaveta um (ou vários) dos pedidos de impeachment. Foi contido, não apenas pela operação montada pelo Centrão com apoio do Palácio do Planalto, como também por um fiador que lhe é caro. “Se ele der um sinal desse para o mercado, será abandonado pelo mercado. Sobrará o que para ele?”, afirmou um deputado próximo a Maia ao Congresso em Foco. Ao final, ele terminou dizendo que não havia dito o que disse.
A história recente tem outros exemplos do custo de um impeachment a quem decide encabeça-lo na Câmara.
Ibsen Pinheiro, do MDB gaúcho, comandava a Câmara durante o impeachment de Collor. Ele terminaria cassado após uma denúncia até hoje controversa de participação num escândalo que ficou conhecido como o caso dos Anões do Orçamento. O processo de cassação dele foi permeado pela sensação de que se tratava de de reequilibrar o balanço entre os poderes após a deposição de Collor. Em 1999, o Supremo Tribunal Federal o absolveu das acusações criminais por falta de provas.
Ibsen encerrou seu mandato como presidente da Câmara em fevereiro de 1993. Meses depois, era o nome de mais peso envolvido no escândalo de roubo de dinheiro público via emendas parlamentares que ficou conhecido como caso dos Anões do Orçamento. O político perdeu os direitos políticos por oito anos e retornou para a política em 2004, como vereador em Porto Alegre.
Eduardo Cunha, igualmente do MDB, chegou ao comando da Câmara em 2015 sustentado pela insatisfação do Centrão com o governo Dilma Rousseff – que havia apoiado a candidatura de Arlindo Chinaglia, do PT paulista. Mais tarde, a eleição de Cunha seria vista como o primeiro sinal do abandono do governo da petista.
Após o impeachment, porém, Cunha se tornaria o primeiro presidente da Câmara afastado do posto pelo Supremo Tribunal Federal. Tido como articulador brilhante e líder de uma bancada fiel a si, ele teve o mandato cassado graças aos votos de 450 deputados – apenas dez parlamentares lhe permaneceram fiéis. Um deles foi Arthur Lira.
As acusações contra Cunha eram graves, mas também pesou o desejo da Câmara de se mostrar imparcial entregando a cabeça do algoz de Dilma Rousseff. Logo depois, o ex-deputado seria preso pela operação Lava Jato, igualmente ansiosa em apanhar um adversário do petismo.
O autor do relatório que selou a sorte do presidente na Câmara, Jovair Arantes, do PTB goiano, estava no sexto mandato consecutivo como deputado federal em 2016. Em 2018, ele naufragou nas urnas. Com 56 mil votos, perdeu a reeleição.
JÁ ESTÁ ACONTECENDO
Quando o assunto é a ascensão da extrema direita no Brasil, muitos acham que essa é uma preocupação só para anos eleitorais. Mas o projeto de poder bolsonarista nunca dorme.
A grande mídia, o agro, as forças armadas, as megaigrejas e as big techs bilionárias ganharam força nas eleições municipais — e têm uma vantagem enorme para 2026.
Não podemos ficar alheios enquanto somos arrastados para o retrocesso, afogados em fumaça tóxica e privados de direitos básicos. Já passou da hora de agir. Juntos.
A meta ousada do Intercept para 2025 é nada menos que derrotar o golpe em andamento antes que ele conclua sua missão. Para isso, dependemos do apoio de nossos leitores.
Você está pronto para combater a máquina bilionária da extrema direita ao nosso lado? Faça uma doação hoje mesmo.