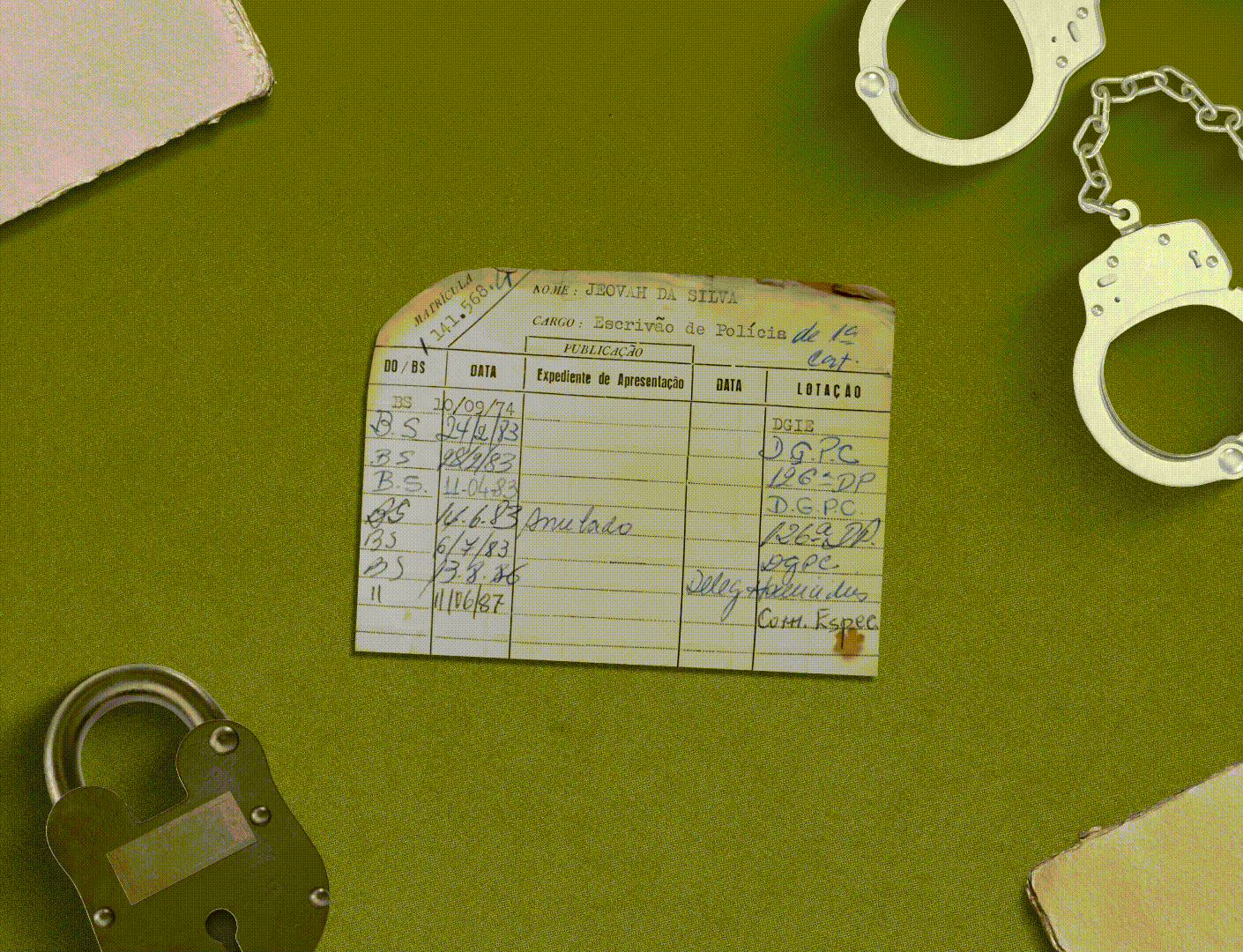O ano de 2024 marca os 60 anos do golpe que depôs o presidente João Goulart e mergulhou o país em uma ditadura civil-militar liderada sucessivamente por cinco generais do Exército. Para um setor considerável da sociedade brasileira, desde a redemocratização, o legado do regime que durou 21 anos passou a ser classificado como violento, negativo e nefasto.
Nos últimos anos, no entanto, é possível notar que houve “uma guinada de opinião em relação à ditadura” – turbinada pela eleição e o governo de Jair Bolsonaro. É o que defende o professor e historiador Rodrigo Patto Sá Motta, doutor em história pela USP e professor titular do departamento de história da UFMG.
Autor do livro “Passados presentes – o golpe de 1964 e a ditadura militar”, Motta analisa o fenômeno a partir do crescimento da população neopentecostal no país, os desgastes políticos após 14 anos de PT e a omissão dos seguidos governos da Nova República em esclarecer o que foi efetivamente o período sem garantias do estado democrático de direito.
“Os militares nunca deixaram de estar ativos nesse discurso. Só que eles ficavam às margens e, muitas vezes, não eram vistos pela maioria da população. Na minha análise, o ano de 2014 é chave nessa mudança, quando há essa virada para a direita”, disse o professor.
Motta também se debruça sobre a mudança do discurso econômico dos militares, a eleição de Javier Milei na Argentina e põe em xeque a visão de que os jornais brasileiros foram apenas vítimas de ações autoritárias da ditadura. “No mundo acadêmico ninguém cai mais nesse discurso, porque está mais do que estabelecido o apoio entusiástico da imprensa à ditadura”.

Leia os principais trechos da conversa com o historiador.
Intercept Brasil – O governo de Jair Bolsonaro e, antes dele, outras forças conservadoras reinterpretaram a ação golpista de 1964. A sociedade passou a enxergar o golpe e a ditadura militar de forma diferente?
Rodrigo Motta – Houve uma virada na opinião pública. O que não se pode é generalizar. Dizer que a sociedade brasileira pensa isso ou aquilo. Não conheço nenhuma pesquisa de opinião que indique isso com muita clareza. Mas, como alguém que viveu lá nos anos 1980 e já estava muito atento a isso, me parece muito claro que houve uma guinada de opinião em relação à ditadura, especialmente entre setores de classe média.
Na época, se aceitou a visão de que o período da ditadura tinha sido negativo e violento. Porque nós estávamos saindo dela e uma das coisas que mais chamava a atenção era a crise econômica muito aguda, com hiperinflação, com a dívida externa, que, na época, se dizia que era impagável. Então, o legado da ditadura, para os mais atentos e que acompanhavam a política brasileira, parecia mais negativo do que positivo. E havia muita esperança de que a redemocratização melhoraria o Brasil politicamente e na resolução de problemas sociais.
Nos anos recentes, desde o impeachment de Dilma e a eleição de Bolsonaro, me parece claro que, alguns setores sociais que, nos anos 1980, tinham essa visão,começaram a olhar para a ditadura com outros olhos, aceitando a versão de que foi um período mais positivo, mais seguro. A versão de que a economia se saiu muito bem. E aceitaram também a versão de que a esquerda era uma força negativa e que a ditadura fez bem em reprimi-los.
Isso tem a ver com os governos de esquerda do PT que estiveram à frente do Brasil por 14 anos. Depois de um período de bonança com Lula, veio o início de uma recessão. Teve os escândalos de corrupção. Então, muita gente se mostrou mais disposta a aceitar o discurso de que a esquerda era diretamente responsável pelos problemas que o país está vivendo. E passou a aceitar que a direita poderia ser uma solução melhor.
Muitos jovens de 18 a 20 anos aceitaram esse tipo de argumento. Outro elemento chave para colocar na análise é o crescimento da população neopentecostal. As pesquisas indicam que 70% do eleitorado neopentecostal votou em Bolsonaro. Então, são fatores que contribuem para a divulgação de valores mais conservadores e autoritários. E, em aliança com esse setor bolsonarista nostálgico do militarismo, que ama a ideia de que os homens de uniforme vão salvar o país.

O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a ditadura militar e os crimes do regime em diversas ocasiões. Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress
O bolsonarismo captou esse sentimento nostálgico da ditadura, mas isso estava no ar já na eleição de 2014. O que desencadeou esse movimento? Podemos atrelar ao revanchismo dos militares com a Comissão da Verdade do governo Dilma?
A maioria dos militares achava que o pacto de elites, feito no fim dos anos 1970 e 1980, continuaria valendo. Qual pacto? O do esquecimento, do silenciamento, do perdão aos militares. Eles achavam que isso era intocável, sagrado. Achavam que isso estava firmado em um tipo de documento, mas isso nunca houve.
O que houve foi uma ação da Lei de Anistia, que na época, nas entrelinhas, estava acordado que os militares não deveriam ser julgados e nem tocados. Mas ninguém assinou isso. E a população brasileira não foi consultada sobre isso. No final do governo Lula, quando se planejou a Comissão da Verdade, e o governo Dilma implantou, a reação entre os militares foi muito forte. Eles falam sobre isso: se sentiram traídos e amedrontados, porque o impacto poderia ter aberto um ciclo de julgamentos para a corporação militar. Então, eles passaram a reagir muito fortemente aos governos do PT.
Mas os primeiros grupos nostálgicos à ditadura se organizaram no fim dos anos 1980. E uma parte deles em torno do Coronel Brilhante Ustra. Além dele, teve em Minas Gerais o grupo Inconfidência, criado por militares da reserva com o mesmo propósito: defender o período de 1964 e denunciar a esquerda.
Então, os militares nunca deixaram de estar ativos nesse discurso, principalmente os que estavam na reserva e sempre tiveram alguma audiência. Só que eles ficavam às margens e muitas vezes não eram vistos pela maioria da população. Na minha análise, o ano de 2014 é chave nessa mudança, quando há essa virada para a direita. Já na campanha eleitoral tem a manifestação desses grupos anti-esquerdistas virulentos, vestindo roupas amarelas para expressar a identidade deles, autoritária. E depois virou uma marca.

"A Nova República também fez muito pouco ou quase nada para esclarecer à população sobre o significado da ditadura", critica o historiador. Foto: Acervo UH/Folhapress
Em seu livro, o senhor discute que a ditadura é responsável pela piora da desigualdade e do autoritarismo estatal. Essas ideias estão bem esclarecidas na sociedade?
Quando acabou a ditadura, havia uma parte maior da população que era excluída da política. Então, muita gente não percebeu isso. Pessoas que estavam mais preocupadas em sobreviver do que estar atento ao cenário político nacional.
Outro fator é que a ditadura durou muito. Foram 21 anos. Muita gente não conhecia o período anterior para fazer uma comparação. Então, não soube de maneira prática que a ditadura piorou o autoritarismo estatal e a desigualdade social.
Eu ajudei a fazer uma pesquisa de opinião em 2010, com pessoas que viveram esse período em cinco estados, para medir o que as pessoas sabiam ou lembravam sobre o golpe de 1964 e a ditadura. E o resultado foi estarrecedor. Muita gente lembrava do Tricampeonato de 1970 da Seleção Brasileira, do Médici [terceiro presidente da ditadura], mas não tinha uma visão clara daquele período como autoritário.
Até porque a ditadura fez um esforço muito grande para negar-se enquanto ditadura. Por exemplo, fazendo eleições regulares para senadores, deputados e prefeitos [exceto das capitais dos estados] e fazendo um discurso de que era um regime normal. Aliás, a imprensa ajudava nisso também, porque muitos jornalões estampavam que aquilo era um sistema legítimo. Alguns chegaram ao ponto de comparar o sistema da ditadura com os regimes parlamentaristas da Europa, dizendo que lá também não tinha eleição direta para chefe de governo. Uma comparação que beirava o escárnio, porque a eleição para deputados no Brasil não era livre. Não existia liberdade partidária e muitos candidatos eram vetados, pois eram considerados subversivos. Era uma comparação medonha, mas era uma estratégia de legitimação. Uma coisa que enfatizo no livro é que a Nova República também fez muito pouco ou quase nada para esclarecer à população sobre o significado da ditadura. Houve um pacto de silêncio entre os grupos dirigentes, que tentaram passar a página, a partir de Sarney e da Nova Constituição.

"O Milei tem um flerte com a direita militar, mas é diferente do Bolsonaro", avalia o historiador. Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress
Como contraponto, temos a Argentina, que desde o fim da ditadura agiu para julgar os crimes da junta militar que governou o país. No entanto, vemos o retorno de pautas ultraconservadoras por meio do presidente eleito Javier Milei. Como explicar isso?
O fenômeno Javier Milei tem muitas semelhanças com o bolsonarismo, mas nesse aspecto da nostalgia em relação ao militarismo tem uma diferença. Bolsonaro era um ex-militar que se cercou de militares por todos os lados. Era um projeto militarista. O caso Milei é diferente. É um economista de direita, ultraliberal, com vários aspectos conservadores, mas ele sem essa postura de nostalgia da ditadura.
O que ele tem é a vice dele [Victoria Villarruel], que é de família militar, e eles têm feito alguns discursos que agradam os militares, como dizer que as punições aos militares foram longe demais. Além de questionar o número de vítimas, um discurso que também não é novo. Muitos grupos de direita questionam o número de 30 mil desaparecidos. Então, o Milei tem um flerte com a direita militar, mas é diferente do Bolsonaro.
Os militares na Argentina e no Brasil também são diferentes. A corporação militar da Argentina foi praticamente desmantelada no fim da ditadura. Tanto que é muito improvável que eles voltem a ter a força que tiveram. Isso pela Guerra das Malvinas, quando foram desmoralizados após a derrota pela Inglaterra, e também pelo julgamento civil ao fim do regime. Eles não conseguiram negociar um salvo-conduto. É muito diferente do caso do Brasil. Aqui, os militares saíram da ditadura unidos, prestigiados e protegidos por esse manto de silêncio. Eles saíram do poder ainda com poder.
Os militares estão presentes na República brasileira desde a derrubada do Império, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Depois, tentaram dar outros golpes, em Vargas, Juscelino, até conseguir em 1964. De onde vem essa sede de poder?
Militarismo e política não combinam. Invariavelmente vai gerar autoritarismo. É muito raro um quadro de protagonismo militar na política que não esteja associado às ações autoritárias. Se a gente pegar esses 134 anos de história desde a proclamação da República, talvez até mais atrás, desde a Guerra do Paraguai, ainda no Império, os militares se enxergam como agentes importantes no país e não apenas como militares. Eles se veem como uma força importante para condução dos rumos do país. Para simplificar, eles se enxergam como mais patrióticos do que outros grupos.
Teve um momento em que eles quiseram sanear a República nos primeiros anos, por meio do tenentismo. Vale ressaltar que o tenentismo teve sua versão à esquerda, com o prestismo, do capitão Luís Carlos Prestes, que depois viria a se tornar comunista [presidente do Partido Comunistra do Brasil, o PCB]. O exército nunca foi só uma força conservadora. Ele teve seus momentos progressistas, com muita gente do campo achando que ele deveria ser uma força para ajudar a modernizar o Brasil.
Mas, a partir de 1964, houve uma unificação de formação militar, doutrinamento e alinhamento de discurso. Foram expurgados milhares de oficiais, sargentos e cabos das Forças Armadas considerados de esquerda. E ampliaram um doutrinamento mais à direita e antiesquerdista. E tem isso até hoje. Então, a identidade militar é muito marcada por esses temas: que eles são a força que combate da esquerda e que vão salvar o país. E imbuídos disso, eles quiseram voltar ao cenário público recentemente.. Junto disso tem o desejo corporativo de ganhar o poder para usufruir do poder. Ter mais verba para o treinamento militar, para equipamento, salário. É por isso que os governos precisam adotar políticas para que os militares não saiam dos quartéis. Não estou defendendo nenhuma perseguição. Os militares tiveram contribuições importantes na República brasileira, ou mesmo no Império, quando se negaram a ser capatazes ou perseguidores de escravos fugitivos. Tem vários momentos positivos, mas eles não têm que almejar o poder no Brasil. E está passando da hora disso ser bem resolvido e a gente não tenha mais que pensar em riscos de intervenções militares.
Durante a ditadura, os militares tinham um projeto nacional-desenvolvimentista com obras faraônicas bancadas pelo estado. No governo Bolsonaro, o discurso pendeu para um liberalismo privatista. O que explica essa mudança?
Eu acho essa uma das questões mais interessantes do cenário recente dos militares no país, porque houve uma mudança profunda. Os militares estavam mais ligados à tradição desenvolvimentista, que vem desde Getúlio Vargas, nos anos 1930 e 1940. Esse discurso se solidificou nos anos 1950, com o próprio Vargas e com Juscelino Kubitschek. A ditadura militar recuperou essa política desenvolvimentista, mas a aplicou de maneira mais autoritária, acompanhada de um projeto econômico de concentração de renda e achatamento de salários.
Mais recentemente, temos visto essa mudança impactante dos militares para abraçar o liberalismo. O próprio Jair Bolsonaro, em vários momentos de votação como deputado, se posicionou a favor do estado e contra propostas privatistas. Mas, quando foi candidato presidencial, foi se encaminhando para o neoliberalismo, com aliança com setores empresariais e do sistema financeiro. E vários líderes militares foram junto, mas nem todos os militares concordam.
Naquela famosa reunião ministerial a que tivemos acesso durante o governo Bolsonaro, o ministro Braga Netto, que depois seria candidato a vice em 2022, defendeu um novo Plano Marshall. E, ali, Paulo Guedes foi para cima dele dizendo que era um plano ultrapassado. Era o velho militarismo se apegando ao passado e propondo que uma saída pode ser o estado sendo um grande ator econômico. Mas entre os líderes que se aproximaram de Bolsonaro e promoveram o governo dele, está claro que se abraçaram ao neoliberalismo.
O que é desafiador é entender o porquê dessa mutação. Possivelmente, se convenceram de que o desenvolvimentismo não tem mais futuro, pois teria entrado em crise no governo Dilma com o retorno da inflação e a recessão econômica. Ou também, e essa é uma hipótese minha, que quiseram se diferenciar do PT nesse aspecto. Porque o PT abraçou o desenvolvimentismo que começou com Vargas e passou pela ditadura. Só que o desenvolvimentismo do PT é progressista, com distribuição de renda e aumento do salário mínimo. Então, os militares podem ter buscado essa diferenciação pois seria confuso defender uma política econômica parecida com a que o PT defende.

"A esquerda era o inimigo da ditadura. Resistir ali era algo natural", disse o historiador ao explicar os conceitos de adesão, resistência e acomodação ao regime militar. Foto: Folhapress
Em seu livro, o senhor fala de três formas como a sociedade dialoga com a ditadura: adesão, resistência ou acomodação. Como esses conceitos ajudam a entender a duração do regime no Brasil?
Essa conceituação que eu propus é para ajudar a entender e classificar as diferentes atitudes em relação à ditadura, assumidas por indivíduos e por grupos sociais. Esse é um tema de pesquisa que é transnacional. A gente pesquisa isso no Brasil, na América Latina, na Europa e dialoga com todos esses países.
Isso ajuda a entender o âmago dos regimes autoritários. Porque existem? Como funcionam? E por que duram? A tipologia mais simples é a adesão. Muita gente aderiu e chamou a ditadura de revolução. Quase toda a imprensa dizia isso: a revolução de 1964. Só nos anos 1980, passou a chamar de ditadura. Políticos aderiram à ditadura, militares, boa parte do Judiciário, líderes religiosos, cidadãos comuns, parte da classe média. Muita gente se identificou com aquilo e sentiu-se representada pelo projeto. E, em certos momentos, se entusiasmou com o regime dirigido pelos militares.
Uma parte da população resistiu, nunca aceitou. Sobretudo, parte da esquerda – até porque a esquerda era o inimigo da ditadura. Resistir ali era algo natural. Desde resistência social, protestos estudantis, greves dos trabalhadores, até ações armadas. Embora, em muitos casos, esses grupos armados não quisessem a simples restauração do regime político anterior, mas um regime socialista.
Esses conceitos variam de acordo com o momento histórico. Não são estanques. Em muitos momentos, resistir era muito perigoso, sobretudo depois do AI-5. Então, muita gente evitava fazer resistência explícita por medo. Mas, à medida que a ditadura foi enfraquecendo, a resistência se tornou mais frequente. E, para muitos atores sociais, passa a ser mais positivo estar na resistência do que no campo do apoio e da adesão. Por isso, muita gente muda de lado. Gente que estava de um lado, passa a outro. Seja por oportunismo, seja por mudar de opinião, de fato.
E, por último, a categoria acomodação é a mais difícil de entender, porque é uma situação intermediária. Uma atitude de quem não quer favorecer a ditadura, mas tampouco resistir. Eu estudei mais o setor universitário científico. Muitos professores universitários, reitores, diretores e cientistas adotaram essa postura de acomodação. Alguns aceitaram posições estatais, que eles entendiam que assumiam não para servir à ditadura, mas ao Brasil. Viraram reitores, diretores, chefes de assessorias de vários tipos e frequentemente dizendo que não eram favoráveis à ditadura. Eventualmente você pode até concordar com essa visão, mas, por outro lado, exercer bem essas funções interessava ao projeto dos militares.
Agora, vale pontuar que, ao fim da ditadura, muita gente que não fez qualquer resistência à ditadura, começou a dizer que tinha resistido, mas você vai verificar os atos do que se passou na época e não encontra essa resistência. Inclusive, setores da imprensa. A imprensa construiu essa imagem que foi vítima da ditadura, com a censura. Bom, no mundo acadêmico ninguém cai mais nesse discurso, porque está mais do que estabelecido o apoio entusiástico da imprensa à ditadura. Na elite acadêmica, a mesma coisa. Gente que não lutou contra e depois apregoou o discurso que tal universidade resistiu à ditadura. E não é algo apropriado. Porque resistência é um ato visível de se rebelar a um poder constituído.
Falando especificamente da imprensa, qual o papel entendido desse setor durante o golpe e o regime?
Majoritária, massiva e hegemonicamente, a imprensa apoiou a derrubada do João Goulart. Com algumas poucas exceções, a exemplo do jornal Última Hora, do Samuel Wainer, que era ligado aos trabalhistas e ao próprio Goulart. E esse jornal foi empastelado depois do golpe. Mas tirando esses casos excepcionais, a imprensa apoiou com muito entusiasmo. Justificou a violência, inventou informações, defendeu os expurgos e cassações de deputados, dizendo que era preciso prender pessoas perigosas.
A posição da maior parte da imprensa foi apoiar o golpe de 1964, que queria que a esquerda fosse expurgada e acreditava que um regime comandado pelos militares era mais seguro para os interesses dessas empresas de mídia. Isso não significava que todos esses grupos estavam a favor de uma ditadura clássica, violenta ou que censurava a própria imprensa.
Mas, em geral, mesmo os jornais censurados não foram para o campo da oposição à ditadura. Muitos deles ficaram no campo da acomodação. Tipo, criticar a censura, mas elogiar a política econômica. Elogiar a repressão aos subversivos, chamados de terroristas. Para simplificar, a maior parte da imprensa queria um regime autoritário, mas que respeitasse certos limites, principalmente a liberdade de imprensa da grande imprensa. A imprensa alternativa, de esquerda, eles não estavam nem aí. Por exemplo, eles não contestaram o fechamento dos jornais de esquerda a partir de 1964. E todos foram fechados. Não sobrou um.
Quando a ditadura entrou em crise, no fim dos anos 1970, muitos jornais continuaram defendendo o mesmo modelo. Eles tiveram uma posição ambígua na campanha das Diretas Já. Vários veículos de mídia se omitiram. Não defenderam. O Globo foi claramente contra. Mas outros não noticiavam ou não apoiavam, porque tinham medo da eleição direta e medo do resultado. Trocando em miúdos, a imprensa gostava daquele sistema político controlado. Ela foi uma agente da ditadura.
À medida que o regime político foi se deteriorando, os jornais foram se atualizando e passaram a falar mais da censura, da violência estatal. Nos anos 1980 e 1990, já na redemocratização, tem essa atualização de não chamar mais de revolução, chamar de ditadura. Para finalizar, vale lembrar que o proprietário do jornal Estadão, o Júlio Mesquita Filho, se descrevia como “revolucionário de primeira hora”, como alguém que ajudou a fazer 1964. E ele reivindicava isso para dizer que tinha direito de interferir nos rumos do regime. Esse é um exemplo muito interessante desse engajamento da imprensa pelo golpe. A imprensa foi claramente golpista e a favor do regime.
Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:
Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.
Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!
Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!
Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!
Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.