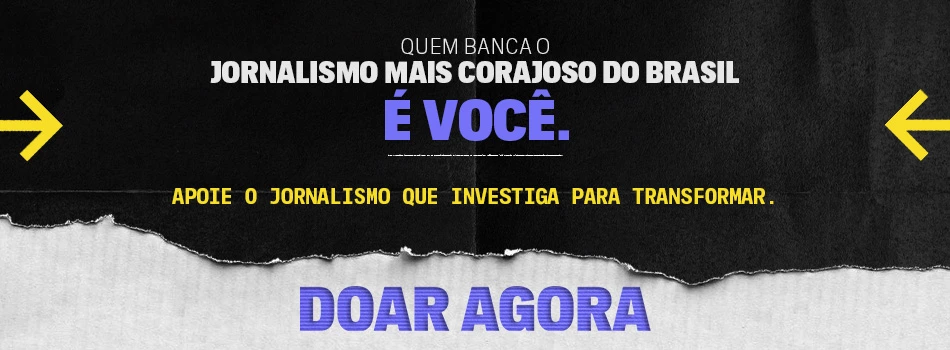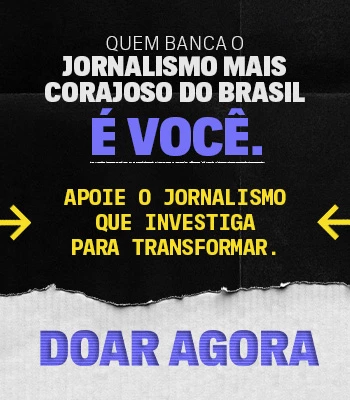O mundo tem responsabilidade sobre o passado, o presente e o futuro de Israel e Palestina. Forças internacionais estão se organizando emergencialmente para demandar o cessar-fogo e a ajuda humanitária para o povo de Gaza, mas precisam também mergulhar na compreensão da realidade palestina. Para isso, devem ir além dos ataques do Hamas em 7 de outubro e do assalto intenso de Israel sobre Gaza com bombardeios, bloqueios e ameaças de anexação.
Sem olhar para o passado, normalizamos o que Israel é hoje – um estado colonial de apartheid – e impossibilitamos qualquer perspectiva de futuro pós-colonial. A comunidade internacional deve fazer esse exercício para contribuir com o equilíbrio de forças na região, de forma a chegarmos a uma solução que traga paz de fato, e não o silenciamento dos palestinos, como vimos nos últimos anos.
As manifestações recentes de dois governos latino-americanos merecem atenção: o de Gustavo Petro, na Colômbia, e o de Lula. Os dois foram solidários aos israelenses que tiveram familiares assassinados ou sequestrados pelo Hamas, mas também expressaram preocupação com Gaza, pedindo o cessar-fogo e apoio humanitário.
No caso brasileiro, a presidência do Conselho de Segurança da ONU ofereceu certo destaque para a sua diplomacia. São notórios os esforços de repatriação e a elaboração da resolução de cessar-fogo vetada pelos Estados Unidos, maior aliado de Israel. Nesta quarta-feira, Lula foi enfático sobre o massacre na Palestina: “Não é uma guerra. É um genocídio que já matou quase 2 mil crianças”.
O Brasil diz reconhecer Israel e a Palestina, advogando por uma solução de dois estados. Mas a normalização do estado colonial de Israel não é questionada, mesmo que signifique a expulsão palestina de seu território e da limpeza étnica de seu povo.
Diante disso, o Comitê Nacional Palestino de Boicote, Desinvestimento e Sanções, o BDS, pediu a Lula que considere revogar os acordos de cooperação entre Brasil e Israel assinados no governo de Bolsonaro e aprovados na Câmara dos Deputados este mês. Um deles normaliza uma relação militar brasileira com Israel. Caso Lula leve a sério o cessar-fogo, deve começar rompendo a cooperação com os responsáveis pela destruição e morte na Palestina.
Já Petro tem usado suas redes para expressar preocupação com o desequilíbrio de forças entre palestinos e Israel, apontando a necessidade de solidariedade internacional e da contextualização do que acontece hoje dentro do histórico colonial de Israel. Suas afirmações criaram desconforto com o país e chegou a ser sugerido que Petro iria expulsar o embaixador israelense da Colômbia, o que não aconteceu.
O presidente busca conectar a violência por lá com a histórica intervenção israelense na Colômbia e trata a Palestina como um paradigma de catástrofe que representa um risco global de conflito. Petro, inclusive, decidiu abrir uma embaixada em Ramallah, na Cisjordânia.
Foi o mais perto que um governo na América Latina chegou de questionar a normalidade institucional de Israel desde que o presidente venezuelano Hugo Chávez expulsou o embaixador israelense em 2009. Mas ainda é mais fácil para atores internacionais investirem em sua relação com a frágil Autoridade Palestina do que cortar laços com Israel.
É preciso, urgentemente, que a compreensão do passado palestino influencie as políticas da comunidade internacional diante de Israel. Não adianta reconhecer as décadas de opressão, se o ator estatal colonial segue sendo legitimado.

Israel é um estado colonial de nascença
A discussão que reduz a responsabilidade pelo genocídio em Gaza ao governo de Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, mascara todos os massacres cometidos contra os palestinos ao longo da história e o projeto colonial em si. Não foi Netanyahu, nem a extrema direita israelense que fundaram o projeto colonial e o apartheid.
O estado de Israel é fruto de um processo de colonização por povoamento: os colonos vieram de outros países e nunca foram embora. E foi construído para assegurar privilégios para eles, a partir da destruição da nação nativa e a expropriação contínua da terra.
Mas desde o início do século 20, o movimento sionista na Palestina buscava construir uma comunidade política e uma economia colona em separado da nativa, de forma a já construir as bases do que viria a ser um estado étnico-racial de maioria judaica. Este é o princípio da hafrada, termo em hebraico que significa separação e tem constituído as políticas estatais de segregação.
O resultado disso é o apartheid, uma solução que permite às elites israelenses equilibrarem três objetivos centrais:
1) O controle sobre todo o território da Palestina histórica conquistado à força nas guerras de 1948-1949 e 1967;
2) A manutenção da maioria demográfica judaica, assegurada pela limpeza étnica de 1948, que expulsou milhares de palestinos, e da negação da cidadania aos milhões que vivem sob ocupação militar na Cisjordânia e em Gaza; e
3) O exercício de um simulacro de democracia para os cidadãos judeus.
Mesmo quando os 75 anos do estado de Israel são reconhecidos como realidade colonial, poucos têm a coragem de apontar que essa atuação só foi possível pela legitimidade emprestada a um estado que se autodeclara em 1948 após a expulsão de palestinos. Isso só foi possível pois a comunidade internacional, por meio da ONU (naquele contexto, dominada por nações coloniais), decidiu que tinha o direito de partir um território em dois em detrimento da população nativa.
Essa legitimidade permitiu que Israel se constituísse com instituições, apoio estrangeiro e infraestrutura completamente desigual diante dos palestinos deslocados à força. As demandas pelo reconhecimento de um estado palestino nunca receberam o mesmo apoio. A realidade atual é de um estado de Israel inquestionável, enquanto o “estado da Palestina” existe apenas no papel.
Israel não vai descolonizar a si mesmo
A normalização do estado colonial de Israel impede que enxerguemos como as disputas políticas israelenses podem alterar como se governa e produz políticas públicas para essa população, mas mantêm a subjugação de palestinos. Essa mesma normalização propõe que caminhos alternativos passem pelo aceite de Israel, criando um paradoxo, já que o estado colonial não se descoloniza a si mesmo.
É impossível que um estado étnico-nacionalista, militarizado, com histórico de expansão colonial, aceite uma partição territorial do mapa. Isso ignora como o processo de Oslo de 1993-1995, que pretendia implementar uma transição gradual para dois estados, resultou em mais legitimidade para Israel controlar e colonizar Gaza e a Cisjordânia.
Além disso, favorece a narrativa de Israel que confunde o projeto sionista com a liberdade para judeus na região. Questionar a legitimidade de Israel é lido automaticamente como um ataque a direitos básicos de judeus ou, pior ainda, insinuações de que o fim do estado colonial de Israel significaria a expulsão dos judeus na região.
Não se pode normalizar as reivindicações racistas de Israel de manutenção de maioria demográfica judaica. Imagine como seria se algum outro estado do mundo reivindicasse abertamente a manutenção de uma maioria étnica como objetivo legítimo?
Diante da problematização acima, é comum ouvir: “Então você defende a solução de um estado?”. Isso porque o imaginário solucionista estatal projeta o recorte territorial como a única receita de sucesso.
LEIA TAMBÉM:
• A Folha de S. Paulo faz as perguntas erradas sobre Israel
• Mais de 20 mil brasileiros assinam petição para grande mídia ‘parar de desumanizar civis palestinos’
• Mídia brasileira consegue atacar Lula até quando fala de Israel
• Sim, este é o 11 de setembro de Israel
• Israel, Hamas, resistência armada e liberdade: o que pensam os palestinos
Parece absurdo que uma lógica simplista seja tão amplamente aceita, mas a realidade é que ela capturou o debate até do campo progressista. Em vez de se discutir métodos de descolonização, como a restituição da terra palestina expropriada, do trabalho palestino explorado e das vidas palestinas aprisionadas e ceifadas, somos obrigados a discutir modelos estatais imperfeitos.
Mais curioso é o fato de que não são apenas os sionistas que afirmam o direito irrestrito de existência do estado de Israel. Muitos dos que advogam uma “solução de dois estados” afirmam a legitimidade de Israel, como única parte capaz de representar os judeus que habitam a região.
Isso quer dizer que estamos abordando o problema pela ponta errada. Não basta reconhecer que a solução de dois estados legitima a expulsão dos palestinos de onde hoje estão cidades israelenses. Nem que, na prática, um mapa de dois estados não existe mais, devido às crescentes colônias israelenses na Cisjordânia e em Jerusalém.
É preciso explorar caminhos de descolonização. E esse processo não envolve somente os palestinos, mas também os israelenses. Israel deve ser descolonizado material e subjetivamente para possibilitar a convivência com os palestinos, não mais a partir da relação colonizador-colonizado.
Como reivindica o teórico Frantz Fanon, a descolonização envolve a destruição da sociedade colonial para a sua refundação. E essa destruição não significa mais expulsão e deslocamento, nem a construção de um, dois ou três estados, mas a refundação das bases sociais da reconciliação pacífica e justa entre palestinos e judeus.

Pensar que Israel cumprirá acordos não passa de ilusão
Não é por acaso que a pressão por Boicote, Desinvestimento e Sanções, o BDS, tenha algum fôlego nos dois primeiros eixos, mas o tópico de sanções siga longe do arcabouço diplomático dos estados.Foi justamente esse processo, liderado pelo movimento BDS sul-africano, que rompeu as relações da comunidade internacional e serviu de pressão externa para o fim do apartheid na África do Sul.
Mas nem quando os estados denunciam o atual genocídio de palestinos em Gaza sanções estão em jogo. Os países árabes que mantêm relações com Israel sequer chamaram seus embaixadores de volta como sinalização mais dura. Para sancionar, os demais estados teriam que desnormalizar a sua relação com Israel. Falta esforço de governos progressistas para explorar como, via sanções ou não, poderiam fazer isso.
‘É UMA GUERRA PSICOLÓGICA’: VEJA COMO ISRAEL COMBATE O BDS NOS EUA
Até o momento, Ione Belarra, ministra espanhola de Direitos Sociais, foi uma das poucas vozes institucionais a advogar pelo rompimento de relações diplomáticas e sanções a Israel, incluindo um embargo a armas. Isso não é questionar a legitimidade do estado colonial, mas enviaria um recado mais efetivo que resoluções da ONU que significam pouco ou nada para um estado que embarca tranquilamente em crimes internacionais de guerra.
A atuação diplomática diante de Israel não pode supor que o estado colonial cumprirá acordos. Israel viola cotidianamente dezenas de resoluções do Conselho de Segurança da ONU, como a Resolução 452, que demanda que o país pare imediatamente a construção de colônias na Cisjordânia e em Jerusalém.
As esquerdas não podem se prender às possibilidades de solução estabelecidas pelas grandes potências. Imaginar e reivindicar a descolonização da Palestina significa atuar para descolonizar todos os estados coloniais. É uma luta particular que expressa a libertação de povos oprimidos de todo mundo. Futuros radicais envolvem modos de ação igualmente radicais.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?